VI Congresso da Geografia Portuguesa / Eixos temáticos / C. Planeamento e Gestão do Território: culturas e práticas
C. Planeamento e Gestão do Território: culturas e práticas
Coordenadores científicos
- Margarida Pereira
- Teresa Sá Marques
Comunicações
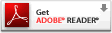
|
on-line | cópia local (versão 9.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows | Mac | |||
| www.adobe.com/reader |
Versão portuguesa Versão inglesa |
Versão portuguesa Versão inglesa |
||
- A ALTA VELOCIDADE FERROVIÁRIA COMO FACTOR DINAMIZADOR DA ECONOMIA NA REGIÃO NORTE: O TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO EIXO PORTO – VIGO
Vítor Patrício Rodrigues Ribeiro, Rui António Rodrigues Ramos, Francisco Carballo Cruz
Palavras chave: Planeamento Territorial, Transportes, IntermodalidadeNo contexto do desenvolvimento da rede ferroviária de alta velocidade projectada para Portugal, o corredor Porto – Vigo surge integrado no projecto prioritário n.º 19 da rede transeuropeia de transportes. Do ponto de vista geográfico esta ligação permitirá melhorar as acessibilidades existentes entre a região Norte de Portugal e a Galiza, potenciando as já fortes relações comerciais entre estas duas regiões. Paralelamente permitirá integrar esta região na rede ferroviária de alta velocidade, quer ibérica quer transeuropeia.
Esta comunicação pretende analisar e identificar as potencialidades da intermodalidade que deverá resultar da disponibilidade do transporte ferroviário de mercadorias em alta velocidade neste eixo. A análise será desenvolvida recorrendo a uma abordagem metodológica que desenhará cenários e implementará análises prospectivas assentes na interacção directa com os principais stakeholders responsáveis pela dinamização do transporte de mercadorias na região. - A MOBILIDADE RESIDENCIAL NAS ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS
Ana Patrícia Nunes, Pascal de Moura Pereira
Palavras chave: Andaluzia, Áreas metropolitanas, mobilidade quotidiana, mobilidade residencialO fenómeno metropolitano constitui-se nos nossos dias como um dos mais importantes na medida em que, pressupõe a existência de uma nova forma de cidade, que se caracteriza essencialmente pela sua complexidade.
A mobilidade populacional, por ser uma das principais responsáveis pelos impactes observados, sobretudo ao nível territorial, correlaciona-se com o fenómeno em questão. A utilização de variáveis relacionadas com esta é de grande importância para a delimitação das áreas metropolitanas.
Uma dessas variáveis é a mobilidade residencial, que como parte integrante da mobilidade urbana, apresenta diversas causas e impactes que influenciam de forma determinante a sua intensidade.
Neste artigo, procura-se, aplicando o indicador referente à mobilidade residencial intermunicipal, identificar e analisar os principais fluxos ocorridos durante a década de 1991 a 2001 nas oito áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma Andaluza. - APROPRIAÇÃO TURÍSTICA DAS IDENTIDADES TERRITORIAIS – A VALORIZAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS URBANOS
Maria Tereza Duarte Paes-Luchiari
Palavras chave: patrimônio cultural, turismo, centros históricos, planejamento territorialEsta reflexão busca contribuir com uma abordagem geográfica na interpretação das relações entre o território, as atividades turísticas e a identidade cultural. Ao tomar diferentes estratégias de valorização, apropriação e uso dos bens patrimoniais nas áreas urbanas centrais, hoje em processo de refuncionalização, sob a lógica comandada pela globalização económica e pelos seus processos constitutivos, como o turismo, buscamos melhor interpretar a incorporação do patrimônio histórico arquitetônico à esfera do consumo cultural, e a agregação de valor econômico às paisagens urbanas e aos lugares-símbolo de pertencimento de identidades territoriais.
- AS RESIDÊNCIAS DE USO SECUNDÁRIO NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Gilda Dantas
Palavras chave: segunda residência, espaço rural, turismoAs residências de uso secundário poderão ser um factor dinamizador da sociedade local, desde que o desenvolvimento seja feito de forma moderada, atendendo às características de cada lugar e à sua capacidade de carga. Temos de tomar em atenção que o desenvolvimento incontrolado de residências secundárias conduz a situações de difícil reparação.
Estes alojamentos apresentam uma grande dispersão espacial, podendo ocorrer em praticamente todos os espaços, quer sejam de ocupação urbana, zonas florestais, praias ou espaços agrícolas.
Na região Autónoma da Madeira, a modalidade de residência secundária mais difundida é a casa unifamiliar que consome uma grande quantidade de solo. Estas são construídas, a maior parte das vezes, sem tomar em atenção a arquitectura local e os materiais de construção, pelo que é necessário estabelecer medidas que regulamentem e orientem o desenvolvimento de tais vivendas. Apostar nos Planos de Pormenor para as áreas de maior pressão urbanística, tal como está previsto nos PDM, será a melhor forma de os interesses de toda a população se sobreporem aos desejos dos particulares, tão difíceis de gerir. - ÀS VOLTAS COM A DIMENSÃO ESPACIAL DO DESEMPREGO E COM A VULNERABILIDADE À EXCLUSÃO SOCIAL
Sónia Alves
Palavras chave: desemprego, dimensão espacial, pobreza, efeitos de áreaNum momento em que aumentam os valores do desemprego, sobretudo os de longa duração, e em que o emprego é considerado uma das principais esferas da inclusão social, o objectivo desta comunicação é contribuir para o debate sobre o desemprego de uma perspectiva geográfica, alertando para o facto deste ser um fenómeno social mas também espacial, existindo pessoas, grupos, comunidades, mas também territórios, com maiores dificuldades de adaptação aos desafios e aos ritmos das mudanças estruturais em curso no emprego.
O artigo divide-se em duas partes.
Na primeira, desenvolve-se uma reflexão teórica em torno das relações que se estabelecem entre o desemprego e a pobreza e entre o desemprego e a exclusão social, notando-se como estas relações resultam de combinações de geometria variável nos laços que ligam os indivíduos desempregados às esferas da protecção social do Estado e da família.
Na segunda, desenvolve-se uma abordagem empírica à problemática para o contexto do Porto: a partir da leitura e da interpretação de gráficos e de mapas, analisa-se a trajectória evolutiva do desemprego no Grande Porto e as suas principais formas de organização espacial no concelho central desta área metropolitana. A interpretação dos padrões espaciais do desemprego é feita à luz de algumas hipóteses explicativas que ajudam a compreender a variação intra-urbana do fenómeno, nomeadamente das que consideram os processos de recomposição espacial da oferta e da procura de emprego, e as decisões de concentração espacial de população desempregada no âmbito de políticas de habitação social e de planeamento do território. O artigo termina sublinhando os efeitos negativos de processos de concentração espacial de população desempregada em áreas residenciais que concentram múltiplas desvantagens, argumentando a importância de uma mudança nas culturas e nas práticas do planeamento e da gestão do território para a criação de comunidades mais sustentáveis ao longo do tempo. - CAPITAL SOCIAL, INOVAÇÃO E INCLUSÃO: O PROJECTO RAÍZES NA FREGUESIA DE MONTE ABRAÃO
Maria João Barroso Hortas
Palavras chave: capital social, inovação social, integração, inclusãoEsta comunicação pretende analisar a intensidade e as formas do capital social mobilizado pelos agentes sociais (promotor e parceiros) que participam no projecto Raízes (Programa Escolhas, 3ª geração), na freguesia de Monte Abraão, procurando explicá-las como um dos recursos fundamentais do processo de inclusão das crianças e jovens imigrantes. Pretendemos demonstrar em que medida a dimensão relacional do capital social, redes e relações de confiança (Putnam, 1993), facilita as formas de coordenação e cooperação e se assume como um recurso capaz de conferir um carácter inovador na concepção e implementação do projecto.
A inovação surge aqui na perspectiva definida por Alter (2000), como um movimento permanente que mobiliza o conjunto dos actores, dependendo fundamentalmente da forma como estes e os agentes se mobilizam e dão uso ao capital social.
Para atingir os objectivos deste estudo recorremos, numa primeira fase, à análise do texto do projecto de candidatura identificando o seu público-alvo, agentes intervenientes, objectivos, medidas e acções nas respostas às necessidades identificadas. Num segundo momento, centramos a nossa investigação na realização de entrevistas e questionários a agentes envolvidos no projecto, de modo a compreender a forma como se organizam, a densidade e tipo de contactos que mantêm, as redes de relações internas e externas que constroem, conferindo ao projecto a dimensão “inovação”. - CIDADES E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – A IMPLEMENTAÇÃO DAS CICLOVIAS E O USO DA BICICLETA EM MEIO URBANO
Ana Márcia FerreiraAs cidades assumem-se, cada vez mais, como entidades territoriais que, pela elevada e diversificada concentração de pessoas e actividades, constituem um espaço privilegiado de relações sociais, comerciais, profissionais e de lazer. A utilização intensa de modos de transporte motorizados e poluentes que, pelas suas características geram externalidades negativas significativas, nomeadamente ao nível do estacionamento ou do ruído, apresenta-se como um sério obstáculo à circulação nas cidades, afectando o bem-estar dos seus habitantes.
A questão da Mobilidade tornou-se um elemento decisivo para o desenvolvimento sustentável das cidades. É neste âmbito, que se pretende focar a necessidade de desenvolver práticas de mobilidade assentes em modos de transporte mais sustentáveis. Num contexto de desenvolvimento da Mobilidade Sustentável, surge a criação de ciclovias, apresentando-se como uma alternativa ao uso do automóvel nas deslocações diárias. Esta, apresenta-se como uma solução para a circulação nas cidades, pois constitui uma das opções para vencer pequenas e médias distâncias, mas também se anuncia como a melhor combinação a ser integrada com os transportes colectivos.
São expostas ainda, as várias opções a ponderar para a implementação de ciclovias, visto nem sempre as escolhas tomadas terem o mesmo nível de eficácia em todas as cidades. Cada caso é singular, para tal há que apresentar a opção que melhor se adapta às características físicas e funcionais de cada território. - CONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
O CASO DA FREGUESIA DO CASTELO – SESIMBRA
Cristina Barbosa
Palavras chave: segunda residência, ordenamento do território, mercado de habitaçãoA urbanização constitui um processo complexo que envolve componentes sociais, culturais, económicas e territoriais originando alterações nos modos de vida e nos usos do tempo, novos valores, comportamentos e consumos que irão reflectir-se em novas formas de estar e de habitar o território.
Com a modificação dos padrões de consumo e lazer, a procura de habitação não se restringiu à primeira habitação. Desde os anos 70/80 que a procura de segunda residência tem vindo a aumentar a um ritmo acelerado, reflectindo-se em novas dinâmicas territoriais, num aumento da pressão sobre o uso do solo e na manutenção de perímetros urbanos alargados e descontínuos. Mais do que a residência secundária, as “residências múltiplas” têm-se tornado componentes essenciais no processo de ocupação do território, não só, por indiciarem formas complexas e evolutivas de “habitar” mas também pelas suas repercussões no mercado de habitação e no “boom” imobiliário. Todas estas dinâmicas exigem novas respostas no âmbito do planeamento e gestão do território.
Neste contexto, a presente comunicação tem um duplo objectivo, por um lado, compreender a diversidade e funcionalidade das segundas residências e, por outro, identificar as suas implicações no ordenamento do território, tendo como caso de estudo a freguesia do Castelo em Sesimbra por apresentar uma dinâmica interessante no contexto da Área Metropolitana de Lisboa. - CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFORMA DO RJIGT E DO RJUE
Demétrio Alves
Palavras chave: Regimes Jurídicos, Instrumentos de Gestão do Território, Urbanização, Edificação, Planeamento, DescentralizaçãoEmbora não sendo tudo, no que tem que ver com o planeamento e a gestão do território, e no que ao modo de fazer urbanismo e edificação diz respeito, os diplomas legais de enquadramento jurídico destas importantes áreas, têm uma função determinante no sentido técnico, económico e político por onde se desenvolve o ordenamento do território.
Verifica-se que, tanto nos diplomas legais que enquadram o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), como naqueles que definem o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), se vêm registando desfasamentos político-institucionais (falta de descentralização para os municípios e redundâncias nas metodologias de processamento administrativo, por exemplo). Por um lado existirão deficits de eficácia no controlo qualitativo da urbanização e edificação, e, por outro, morosidades anti-económicas para os agentes que operam construtivamente sobre o território.
O governo entendeu alterar o RJIGT e o RJUE, tendo aprovado em 14 de Junho último um conjunto de diplomas que, nesta altura, se encontram a tramitar na Assembleia da República.
Esta comunicação pretende fazer algumas considerações sobre a matéria. - CONTRIBUTOS DO PLANEAMENTO TERRITORIAL PARA O
COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO
José Lúcio
Palavras chave: Pobreza, Gestão do TerritórioDesde os anos sessenta que as questões associadas à pobreza e à exclusão social têm vindo a ganhar relevância dentro da comunidade científica. Disciplinas como a Sociologia e a Economia ocuparam, desde muito cedo, lugar de destaque nos intensos debates sobre as causas e as consequências dos fenómenos de empobrecimento. Particularmente relevantes foram sem dúvida os debates e os estudos que se seguiram, do outro lado do Atlântico, após a famosa declaração de “Guerra à Pobreza” (“War on Poverty”) pelo então Presidente Lyndon Johnson (em 1964).
Entre os anos sessenta e meados dos anos oitenta o debate centrou-se, em larga escala, em questões associadas quer aos nexos de causalidade explicativos da pobreza e da exclusão, quer a toda a problemática relativa ao corpo complexo de consequências, derivadas da manutenção de grupos sociais numa situação de indigência. Assistiu-se, também, a esforços teóricos no sentido de providenciar instrumentos e metodologias de medição/avaliação do fenómeno a que designamos genericamente por pobreza.
Posteriormente, o debate centrou-se, como seria de esperar, no “outro lado da moeda”, ou seja, nas estratégias de combate à pobreza e à exclusão. Neste sentido, as ciências sociais, com natural destaque para a Economia e Sociologia e, mais recentemente, a Geografia, apresentaram importantes contributos para enriquecer um quadro estratégico de combate às manifestações de pobreza e exclusão.
A presente comunicação encerra como objectivo principal a pesquisa de quais poderão ser as contribuições do planeamento territorial, enquanto importante actividade de natureza estratégica, para uma política integrada de redução da pobreza e da exclusão. Num momento em que reconhecidamente se assiste ao ganho de consciência de que não basta crescer ou, até mesmo, desenvolver, para que as sociedades seculares se tornem mais justas e equitativas, a nossa comunicação pretende explorar vias de actuação para os planeadores do território. Assim,
podemos definir como grande objectivo para a nossa comunicação a procura de respostas para a seguinte questão: Que estratégias, sobretudo a nível local, se podem desenvolver no âmbito das actividades de planeamento, para garantir que o esforço de planear se traduza em modelos territoriais mais solidários? - CURITIBA, CIDADE-PARADIGMA DO PLANEAMENTO URBANO INTEGRADO: UMA VISÃO DOS TRANSPORTES URBANOS
Mafalda Estevão
Palavras chave: Planeamento Urbano Integrado, Rede Viária, Transporte Colectivo Urbano, ZonamentoA cidade de Curitiba constitui um notável exemplo do que se pode entender, em sentido lato, por planeamento urbano integrado uma vez que, no modelo de planeamento referente à organização geral do seu território, são consideradas, integradamente, as vertentes social, económica e ambiental.
As soluções inovadoras que Curitiba tem vindo a pôr em prática (desde a década de 40), e que têm permitido ser eleita, a nível internacional, como um paradigma de desenvolvimento urbanístico equilibrado, tiveram na sua génese conceitos precisos quanto ao tipo de planeamento urbano a implementar.
Ora, é neste contexto, que se procura dar cumprimento a um crescimento urbano de tipo linear, desenhado ao longo de (cinco) eixos urbanos estruturais pré-estabelecidos, que privilegie ligações alternativas independentes da área central, evitando a geração de volumes de tráfego insustentáveis tão característicos das grandes cidades. Esta rede viária é servida por transporte colectivo urbano (autocarro) que se desenvolve naquilo a que se designa por Rede Integrada de Transportes, sendo esta, por sua vez, constituída por um conjunto de linhas, de trajecto e dimensão variáveis.
Com efeito, tendo como referência o caso de Curitiba, a presente comunicação discute o papel dos sistemas de transporte colectivo (e respectiva rede de suporte) enquanto factores de desenvolvimento territorial sustentável, abordando as diferentes dimensões que lhe estão subjacentes. - DA CIDADE ESTILHAÇADA: NOBILITAÇÃO URBANA E PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO FRAGMENTADO
Luís Mendes
Palavras chave: Nobilitação urbana, Fragmentação socio-espacial, Cidade pós-moderna, Cultura de consumo, Estetização da vida social, LsboaÉ indubitável que as últimas décadas têm assistido à formação de um novo tipo de cidade a que, por comodidade e na falta de melhor expressão, se designa de pós-moderna. A cidade compacta, de zonamento social estanque e de limites precisos, cujo centro evidencia uma relativa homogeneidade social, estilhaça-se num conjunto de fragmentos distintos onde os efeitos de coesão, de continuidade e de legibilidade urbanística, dão lugar a formações territoriais mais complexas, territorialmente descontínuas e sócio e espacialmente enclavadas.
Este processo deve-se, em parte, ao facto de, desde finais dos anos 60, o mercado de habitação das cidades do capitalismo avançado, respondendo a uma crescente fragmentação e complexidade sociais, ter vindo a sofrer transformações significativas, através da emergência de novos produtos imobiliários e de novos formatos de alojamento, influenciando a organização espacial urbana no sentido de uma maior segregação a micro-escala.
Recorrendo ao Bairro Alto, como caso ilustrativo, daremos particular atenção às formulações teóricas que defendem que esta tendência de nobilitação urbana, enquanto processo específico de recentralização socialmente selectiva nas áreas centrais da cidade, tem contribuído para a fragmentação social e residencial do espaço urbano contemporâneo. O Bairro Alto, na cidade de Lisboa, ainda que receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, tem, nos últimos anos, assistido a profundas alterações no seu tecido social com a chegada de novos moradores que, portadores de um estilo de vida muito próprio, produzem uma apropriação social pontual e reticular do espaço-bairro. - DUAS DÉCADAS DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA: ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS E DINÂMICAS TERRITORIAIS EM PORTUGAL
Iva Pires, Flávio Nunes
Palavras chave: Geografia Económica, Dinâmicas Sectoriais, Estrutura do Emprego, Especializações Produtivas, Portugal, Integração EuropeiaDecorridas que estão duas décadas do momento da adesão de Portugal à então CEE
(Comunidade Económica Europeia) e, por conseguinte, do lançamento do desafio da convergência de Portugal aos níveis médios de desenvolvimento europeu, importa avaliar as mudanças estruturais registadas ao longo deste período, especialmente ao nível do processo de reestruturação e modernização do sistema produtivo nacional. Com esta comunicação far-se-á uma análise do sentido de evolução do modelo económico português, a partir de meados da década de 1980, com o objectivo de conhecer como a estrutura empresarial nacional se tem reajustado face aos desafios do processo de globalização económica, marcado não só pela abertura de novos mercados para produtos e serviços, mas sobretudo pelo acréscimo da concorrência empresarial que advém da progressiva liberalização do comércio à escala mundial e da crescente facilidade de circulação de capitais, informações, conhecimentos, produtos, tecnologias e recursos humanos. - GUIMARÃES PARA OS PEQUENINOS
PLANEAMENTO URBANO CENTRADO NA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS
Paula Cristina Remoaldo, Liliana Teixeira Gomes
Palavras chave: Planeamento Urbano, Cidade mais Segura, Segurança Infantil, Papel das AutarquiasNo âmbito da União Europeia os acidentes de viação são encarados como um importante problema de saúde pública, havendo anualmente cerca de 150.000 deficientes e 40.000 mortos decorrentes deste tipo de acidentes.
Apesar do cenário estar a melhorar em Portugal havendo tendência para deixar de ocupar os primeiros lugares no que diz respeito a causas de morte por acidentes de transporte, acreditamos que será difícil alcançar a meta proposta até finais da presente década no âmbito do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (P.N.P.R.) que se encontra em vigor.
Quando falamos de Prevenção Rodoviária e nos cingimos às crianças, e sabendo que Portugal continua a ser um dos países cimeiros no que concerne ao número de óbitos de crianças por acidente de viação e por 100.000 habitantes, não podemos esquecer também o planeamento urbano que é pouco pensado tendo em conta as suas necessidades.
No presente paper revelamos alguns resultados do Projecto intitulado Guimarães para os pequeninos – a influência do desenho urbano na segurança rodoviária das crianças, financiado entre Janeiro e Outubro de 2007 pelo Ministério da Administração Interna (M.A.I.).
Este teve como principais objectivos avaliar a influência do desenho urbano de
Guimarães na segurança rodoviária das crianças, centrando-se no estudo do meio envolvente de nove instituições, tendo em conta o respeito ou não das normas vigentes em termos de segurança rodoviária das crianças e aferirindo soluções para os problemas diagnosticados pelos técnicos e pais das crianças. - GUIMARÃES: CARTOGRAFIA URBANA HISTÓRICA E MORFOLOGIA URBANA
Mário Gonçalves Fernandes
Palavras chave: cartografia urbana, morfologia urbana, reabilitação urbanaNo âmbito das fontes para o estudo das aglomerações urbanas visando informar a intervenção em espaços urbanos consolidados, os documentos cartográficos apresentam-se como elementos incontornáveis, tornando-se o seu conhecimento um aspecto essencial para a compreensão da morfogénese urbana. Neste sentido, neste contributo visam-se explicitamente dois objectivos: por um lado, divulgar uma planta de Guimarães até agora desconhecida, por outro, relevar o rico manancial de informação que a planta fornece, certamente pertinente para várias áreas do conhecimento, como a geografia urbana histórica, o urbanismo, a arqueologia ou a história de arte.
A planta, existente na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, para onde viajou no espólio da corte portuguesa na primeira década de Oitocentos, faz parte dos Mappas do Reino de Portugal e suas conquistas collegidos por Diogo Barbosa Machado, que faleceu em 1773, e foi divulgada por Maria Dulce de Faria, bibliotecária daquela instituição, na 21st International Conference on the History of Cartography (Budapeste, Julho de 2005).
Representando a povoação na perspectiva ortogonal, com grande pormenor (escala de 1:1100, aproximadamente), apresenta elementos que permitem afirmar tratar-se de um exemplar Quinhentista, constituindo, também por isto, um documento fulcral para a história da cartografia urbana portuguesa. O valor intrínseco da planta “De Guimarães” exige a sua divulgação, quer como elemento cultural a ser preservado e potenciado, quer como fonte de investigação e de informação para a intervenção e reabilitação urbana.
Foi isso que se fez no IV Congresso Histórico de Guimarães, em 2006, aí se visando uma divulgação in situ. É isso que se reforça neste VI Congresso da Geografia Portuguesa, aqui numa partilha entre pares, sublinhando-se que o texto que a seguir se apresenta decalca aquele que foi apresentado no congresso de Guimarães. - LEI DAS AUGI NO QUADRO DAS ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO DE GESTÃO TERRITORIAL
NOVAS SOLUÇÕES PARA VELHOS PROBLEMAS – O PPR
Júlia Susana C. Reis, Maria Teresa Caiado F. Correia
Palavras chave: Reconversão, Legalização, Desafios, Normas, Sinergias, UrbanidadeO fenómeno clandestino, consubstanciado na transformação informal e no fraccionamento ilegal do território, teve e tem, ainda hoje, em Portugal, e sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, um significativo papel na criação do espaço urbano. Milhares de hectares foram parcelados e destinados à construção no mais completo desrespeito para com as regras técnico-jurídicas aplicáveis, à vista de todos, perante a lentidão, e na maior parte das vezes ineficácia, do quadro legal vigente e das instituições competentes. A tomada de consciência do fenómeno clandestino não é nova, vários diplomas legais procuraram, ainda que de forma incipiente, obter resultados práticos, no entanto, apesar do esforço, não foi possível disciplinar os negócios jurídicos e a transformação fundiária acentuou-se.
Com a entrada em vigor da Lei n.º 91/95 de 02 de Set. (Lei das AUGI) surge, passados cerca de 20 anos sobre o fenómeno, um regime jurídico excepcional para a reconversão urbanística do solo e a legalização de construções, concedendo o legislador normas excepcionais por motivos de utilidade, interrompendo regras gerais. Embora as razões que determinam a criação de regras excepcionais sejam passageiras, até porque o direito é transitório, parecem existir excepções que têm tendência a permanecer, sendo o regime jurídico em apreço, em nosso entendimento, uma dessas situações.
A reconversão de uma AUGI não constitui uma tarefa simples em face, sobretudo, do elevado grau de comprometimento do território. Embora este argumento seja muitas vezes encarado como uma espécie de inevitabilidade para a dificuldade em implementar soluções, o mesmo não deixa de ser uma contingência. A reconversão não pode alhear-se das políticas gerais de planeamento e ordenamento do território, mas deve ser equacionada à sua luz de uma forma mais célere e oportuna, separando o necessário do acessório A Reconversão carece de ultrapassar a fasquia das intenções para o campo das soluções, superar o estigma espacial da degradação e provar que pode alcançar a sua urbanidade.
Nesta apresentação propomos abordar, em face do contexto acima descrito e tendo por base uma experiência prática, no campo profissional, no acompanhamento de operações de reconversão urbanística no Município do Seixal, proceder a uma pequena reflexão sobre as eventuais implicações para a reconversão urbanística, das alterações previstas a curto prazo para os instrumentos de gestão territorial, e do modo como estas poderão contribuir para a procura de novas práticas na resolução destes velhos problemas. - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE SUSTENTÁVEIS EM CENTROS HISTÓRICOS
Cristina Morais, Nuno Marques da Silva, Pedro Serrano Gomes
Palavras chave: Mobilidade, Acessibilidade, Sustentabilidade, Centros HistóricosA alteração dos padrões de mobilidade, concomitante a uma reorganização da localização das actividades no território, tem criado conflitos com as condições de habitabilidade dos espaços urbanos. Nos centros históricos, dada a sua especificidade e inadequação para acolher grandes fluxos de trânsito motorizado, as consequências destes novos padrões de mobilidade são particularmente nefastas. O advento do conceito de sustentabilidade cria a necessidade de o planeamento da mobilidade e acessibilidade com ele se articular, procurando conciliar as legítimas pretensões dos variados agentes do território, em termos de mobilidade, com aqueles que são os três grandes pilares da sustentabilidade: crescimento económico, coesão social e qualidade ambiental.
A presente comunicação parte, então, das especificidades das questões de mobilidade e acessibilidade nos centros históricos, procurando respostas que contribuam para a sua sustentabilidade. A diversidade de causas para os problemas neste domínio nos centros históricos é apresentada, salientando a manutenção da centralidade destes lugares pelo albergue de actividades terciárias e de património histórico-cultural, no contexto de relocalização de funções urbanas, particularmente a residencial. A compatibilização da acessibilidade dos centros históricos e da mobilidade dos seus utentes com o desígnio da sustentabilidade tem sido promovida através de estratégias visando sobretudo a diminuição do uso do transporte privado, melhorias nos serviços de transporte público e promoção da mobilidade pedonal. Estas são enumeradas na comunicação, que se debruça, posteriormente, sobre a apresentação de estudos de caso (nacionais e internacionais) de intervenções consideradas exemplificativas, assinalando-se os benefícios e limitações de cada uma delas. - MOBILIDADE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO – O PAPEL DO DESENHO URBANO
Hélder Ferreira
Palavras chave: Mobilidade, Desenho Urbano, Espaço PúblicoO desenho urbano apresenta-se hoje, como ferramenta fundamental para a melhoria da mobilidade e da segurança rodoviária nos núcleos urbanos, especialmente para o peão.
A qualidade dos “espaços públicos de encontro” permite, uma verdadeira interacção entre gerações, classes sociais e comunidades. De outro modo o cidadão tende para o isolamento, deixando de sentir que faz parte da cidade e de participar em “causas comuns”.
Deste modo, alterações da morfologia e do desenho urbano, além de contribuírem para a melhoria do espaço público, podem também ajudar à melhoria da mobilidade urbana, através de diversas acções que contribuam para a redução da velocidade dos veículos.
Numa sociedade cada vez mais urbana e globalizada, em que as cidades competem entre si, a qualidade e a funcionalidade do espaço público pode ser um factor de diferenciação.
Através das políticas de mobilidade, opções ao nível do mobiliário urbano e desenho das ruas, é possível contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos núcleos urbanos.
Será apresentada uma breve reflexão à implementação das designadas “Zonas Mistas” (áreas residenciais em que a função recreio ou convívio dos peões tem prioridade), “Zonas de Encontro” (semelhante às Zonas Mistas, mas em áreas urbanas com actividades de comércio ou serviços), “Zonas 30” (constituem áreas de circulação homogénea, onde a velocidade é limitada a 30 km/h e são objecto de ordenamento específico).
A coexistência pacífica e segura de todos os utilizadores da rua é um exercício de desenho urbano complexo, com inúmeras vantagens sociais, económicas e ambientais resultantes da redução da velocidade de circulação dos veículos motorizados em meio urbano.;
Sendo necessário distinguir as intervenções em núcleos históricos das novas áreas urbanas. - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: O CASO DOS MINI-BUS ELÉCTRICOS
Joana Costa, Joana Miranda
Palavras chave: Mobilidade sustentável, Mini-Bus, centro histórico, energias alternativas, competitividade dos territóriosActualmente os grandes centros urbanos enfrentam uma crise de mobilidade. O modelo de circulação centrado no automóvel, a carência dos sistemas de transportes colectivos e a falta de infra-estruturas necessárias para dar resposta aos problemas existentes, nomeadamente em termos de congestionamento, são os principais responsáveis deste fenómeno. Assim, a mobilidade urbana torna-se num sistema bastante complexo e que funciona em condições claramente insatisfatórias (desarticulação entre a oferta de transporte e o uso do solo), sendo pois necessário a implementação de soluções mais sustentáveis e que se enquadrem numa visão articulada do sistema: espaços, canais, actividades e fluxos. Neste sentido, como tentativa de resolver esses principais problemas, temos assistido (desde 2002) em Portugal, à realização de testes e demonstrações de Mini-Bus movidos a energias alternativas, como o hidrogénio e a electricidade, nos quais a Associação Portuguesa de Veículos Eléctricos se tem revelado impulsionadora. Este tipo de autocarro tem-se revelado bastante eficiente nos centros históricos das cidades, permitindo uma maior abertura da malha urbana, com um baixo custo de exploração e elevada fiabilidade.
Com base nestas orientações, a comunicação incide sobre as principais características do Mini-Bus eléctrico (incluindo percursos), mais valias, definição de parâmetros para garantir o seu sucesso e exemplos de cidades que aderiram a este modo de transporte no âmbito da mobilidade sustentável, sendo ainda importante referir o seu contributo para o aumento da competitividade dos territórios. - NOVAS OPORTUNIDADES PARA O ESPAÇO RURAL
ANÁLISE EXPLORATÓRIA NO CENTRO DE PORTUGAL
Norberto Santos, Lúcio CunhaComo afirmava Dollfus a acção humana tende a transformar o meio natural em meio geográfico. Neste âmbito, os espaços de grandes densidades humanas sempre apresentaram modos de intervenção significativamente mais marcados pela mão do homem. O espaço que aqui pretendemos enfatizar é precisamente aquele que tem, depois de Vidal de La Blache, sentido dificuldade em se afirmar enquanto espaço de acção, devido às suas características de repulsão, de periferia, de actividades económicas com efeitos multiplicadores reduzidos, de dificuldade de acesso a bens e equipamentos, de falta de cumprimento da proposta central da democracia e da cidadania de “a deveres iguais deverem corresponder iguais direitos”. Os espaços da extensividade da acção, dos tempos longos, do ciclo cósmico, das baixas densidades oferecem-nos, hoje, novos modos de fazer e velhos modos com novas roupagens, que encontram na Geografia eco redobrado através da sua possibilidade de territorializar as temáticas. Assim, o espaço, as pessoas e o ordenamento surgem integrados no território e assumem-se como modos de desenvolvimento local que importa explicitar.
Com a presente comunicação pretende-se uma abordagem da Região Centro Interior do País que procura o encontro e o equilíbrio entre a tradição, a modernidade e a inovação, através da valorização de recursos endógenos diversos com particular destaque para a importância que assumem os recursos hídricos, termas e praias fluviais, os lugares de monumentalidade geomorfológica e paisagística ou, ainda, as áreas de interesse ambiental, em actividades desportivas e de lazer capazes de refuncionalizar actividades económicas e lugares, promovendo o desenvolvimento local. - O BAIRRO DA COVA DA MOURA: ESTRUTURA DAS (DES)CONTINUIDADES SOCIO-URBANÍSTICAS
Carlos Jorge de Almeida Gonçalves
Palavras chave: Barreiras sócio-urbanísticas, integração/fragmentação, continuidade/descontinuidade/enclave/envolventeNeste trabalho encaramos o quadro sócio-urbanistico que o bairro da Cova da Moura apresenta e procuraremos as razões de origem interna e aquelas que resultam de factores externos, isto porque, tal como há causas económicas e causas sociais para a exclusão social e para a fragmentação urbana, há também razões exclusivamente urbanísticas, as quais decorrem essencialmente das políticas e das formas de produção e organização do espaço.
O território em análise destaca-se pela profundidade das problemáticas socio-urbanísticas em presença. Com este trabalho, procuraremos acrescentar elementos para consolidar conhecimentos que permitam uma análise mais fundamentada das soluções a adoptar tendo como enfoque primeiro a integração sócio-urbanística do bairro na estrutura urbana envolvente, descortinando os pontos onde se podem estabelecer linhas de ligação que, de algum modo, amarrem o bairro à sua envolvente. - O METRO E A CIDADE
DAS REPRESENTAÇÕES DA CAUSALIDADE À INTEGRAÇÃO TRANSPORTE/ORDENAMENTO EM PARIS
Miguel Padeiro
Palavras chave: metro, causalidade, avaliação, efeitos, infra-estruturas, uso do soloA rede metropolitana parisiense conhece desde o início da década de 70 uma expansão espacial contínua que levou à criação de 28 estações de metro nos subúrbios da cidade, aumentando para 54 o seu número total. Tal desenvolvimento questiona os efeitos produzidos num espaço heterogéneo, simultaneamente figura da antiga “cintura vermelha”, da actual extensão da centralidade parisiense (Burgel, 1999, 2006) e da reactivação dos arredores mais próximos de Paris como alvo da política regional.
A partir da exploração estatística e geográfica da base de dados M.O.S. (Mode d’occupation du sol) e da análise aos projectos de prolongamento das linhas de metro, pretende-se avaliar os efeitos das infra-estruturas no espaço urbano da proche banlieue de Paris. Pouco perceptíveis, as alterações esboçam modos de causalidade diferentes das relações infra-estrutura/território habitualmente apontadas nos discursos e na prática dos decisores em matéria de transporte urbano. À retórica do “efeito estruturante” (Offner, 1993) sobre o urbanismo não corresponde o peso, na decisão, dos critérios da rentabilidade sócio-económica, tidos como racionais e objectivos, e que finalmente constituem um factor de minimização do risco financeiro. Os balanços ex-post, realizados a curto e médio prazo, não facilitam a evolução da prática e dos discursos político e científico.
Arriscar e desenhar a cidade com o auxílio do transporte obriga enfim a colocar a questão das contradições que põem em causa a integração das políticas de transporte e de ordenamento. Nas primeiras domina a lógica de rentabilidade e polarização dos fluxos, as segundas respondem a objectivos de distribuição igualitária que tendem por isso mesmo em dispersar a procura (Bonnafous, 1994). Da causalidade figurada às práticas reais, que ligações ? - O PAPEL DOS CENTROS HISTÓRICOS NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DAS ÁREAS METROPOLITANAS
Filipa Ramalhete
Palavras chave: ordenamento do território, centros históricos, património, áreas metropolitanasO património é, sem dúvida, um dos aspectos do ordenamento do território que mais reflecte no espaço a história e a cultura das comunidades e o seu estudo constitui um dos passos essenciais para a elaboração de políticas e práticas de desenvolvimento regional.
A noção de centro histórico advém do alargamento territorial do conceito de património. Implica que a noção de valor patrimonial se estenda para além do monumento isolado, abrangendo também a sua envolvente. Compreende, também, a atribuição de um valor patrimonial a elementos de cariz vernacular, em especial a espaços arquitectónicos com funções residenciais, de comércio e de serviços, trazendo para uma nova esfera o papel dos indivíduos anónimos e do seu saber na construção do território.
O objectivo desta comunicação é abordar a questão do ordenamento dos centros históricos em Portugal, abordando os seus principais problemas, principais soluções e modelos de gestão existentes, tendo como base a análise de centros históricos localizados numa área de expansão metropolitana. Serão apresentadas algumas reflexões sobre o papel dos centros históricos em territórios inseridos em áreas metropolitanas, assim como algumas propostas de ordenamento, fundamentadas no estudo de caso da Península de Setúbal. - O TELETRABALHO EM PORTUGAL E A ESTRUTURAÇÃO DE FORMAS COMPLEMENTARES DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL: ESPAÇO DE FLUXOS VS. ESPAÇO DE LUGARES
Flávio Nunes
Palavras chave: espaço de fluxos, espaço de lugares, TIC’s, teletrabalhoNa sociedade da informação o funcionamento em rede, que tem como principal fundamento o que se designa por espaço de fluxos, é a lógica inerente à nova forma de organização social e territorial. Neste novo quadro contextual há, em termos de poder e controlo, uma preponderância crescente do espaço de fluxos sobre o espaço de lugares, sobretudo devido à possibilidade das infra-estruturas electrónicas de comunicação permitirem uma coordenação em tempo real das principais actividades económicas, políticas ou culturais dispersas pelo planeta, contudo, e apesar disso, verifica-se que a importância do espaço de lugares tende a persistir. Com esta comunicação procura-se, através do estudo do processo de adesão ao teletrabalho em Portugal, compreender como se processa na prática a dialéctica entre estes dois tipos de espaços e o modo como na vivência quotidiana eles se articulam entre si, agindo simultaneamente na estruturação da sociedade e do território.
- PÓLOS DE ECONOMIA DO PATRIMÓNIO: UMA ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO TERRITORIAL
Regina Salvador, José Lúcio, André Fernandes
Palavras chave: Património, construção civil, marketing territorial, clusters culturaisO objectivo principal da presente comunicação é avaliar o potencial de uma nova dinâmica na construção civil (que atravessa uma prolongada crise traduzida na diminuição das taxas de crescimento sectorial), assente no investimento em Pólos de Economia do Património. Esta estratégia tem conhecido um sucesso assinalável em vários Estados-Membros, permitindo a qualificação patrimonial através do recurso a saberes, métodos, instrumentos e técnicas tradicionais. A valorização dos recursos patrimoniais tem ainda efeitos de arrastamento em sectores como o turismo, produções tradicionais de qualidade elevada, artesanato, outros saberes tradicionais, empregos ligados à melhoria do ambiente e da qualidade de vida. Esta aposta permitirá rentabilizar investimentos significativos realizados em igrejas, casas senhoriais ou monumentos públicos. A comunicação apresentará propostas para a promoção e desenvolvimento da estratégia de valorização do património e aproveitamento da capacidade instalada ao nível da construção civil.
- PROJECTO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: OS CASOS DOS MUNICÍPIOS DE MÉRTOLA, OURIQUE E TAVIRA
André Fernandes, João Figueira de Sousa
Palavras chave: Mobilidade sustentável, conceito multimodal de deslocação, sistemas de transportesO desafio da promoção de padrões de mobilidade sustentáveis, integrado num quadro referencial mais vasto subjacente à consolidação do paradigma do desenvolvimento sustentável, é indissociável de duas grandes problemáticas/componentes conexas, embora com especificidades que exigem a adopção de abordagens e soluções distintas: a mobilidade em áreas urbanas e em áreas rurais de baixa densidade. No primeiro caso, a prevalência de padrões de mobilidade baseados na utilização do transporte individual em detrimento do transporte público traduz-se na geração de externalidades negativas em vários domínios (ambiental, social, económico), com reflexos na qualidade de vida da população. Por sua vez, nas áreas rurais de baixa densidade, a inexistência de limiares de procura que assegurem a viabilidade da oferta tradicional de transporte traduz-se numa oferta desajustada relativamente às necessidades específicas das populações (geralmente idosa), colocando-se aqui o desafio imediato da equidade social. Neste contexto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promoveu o “Projecto Mobilidade Sustentável”, o qual tem por objectivo a elaboração de Planos de Mobilidade Sustentável para 40 municípios, os quais deverão adquirir uma perspectiva ambiental coerente de deslocação, tendo em vista a diminuição dos respectivos impactes no ambiente e o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Partindo destas orientações, a comunicação debruça-se sobre as directrizes fundadas no diagnóstico prospectivo elaborado pela Equipa do Instituto de Dinâmica do Espaço para os municípios de Mértola, Ourique e Tavira, e sobre os conceitos de intervenção propostos, incidindo nos conceitos multimodais de deslocação definidos e nas soluções a implementar
- REGIÃO E IDENTIDADE – O CASO DO ALENTEJO
Ana Lavrador, Maria Alexandre Lousada
Palavras chave: paisagem, identidade, representação, marketing, AlentejoEste artigo debruça-se sobre a mudança na identidade do Alentejo, uma das mais carismáticas regiões de Portugal. Nos últimos 30 anos ocorreram importantes modificações na região, quer no que respeita ao regime de propriedade quer relativamente às actividades económicas, ambas com reflexos no uso do solo e na sua ocupação. As consequentes mudanças da paisagem e o marketing apoiado em representações criaram uma nova identidade para a região. Essas mudanças na identidade regional alentejana estão fortemente relacionadas com três momentos políticos cruciais: a) A Campanha do Trigo, nos anos 30 do século XX, através da qual a região é transformada no “celeiro do país”; b) A Reforma Agrária, emergente da Revolução do 25 Abril de 1974, ficou associada às expropriações, a novas figuras empresariais (UCP) e ao voto comunista, no seu conjunto representando o Alentejo Vermelho; c) A actualidade, com início na adesão de Portugal à CEE, em 1986, é balizada, no essencial, pelas seguintes modificações: (re)modelação agrícola (vinhedos, olival, produção de gado, plano de rega do Alqueva); novas actividades industriais (em particular a plataforma de Sines e novas acessibilidades) e, sobretudo, uma importante oferta recreativa, centrada nas residências secundárias e no turismo (visitas a centros urbanos, caça, enoturismo, outros), no seu conjunto oferecendo uma nova paisagem agrária e uma nova identidade ao Alentejo.
A metodologia utilizada assenta na recolha estatística e num conjunto de representações diversificado, com destaque para textos literários e as: imagens contidas em folhetos publicitários. - RYANAIR IN OPORTO AIRPORTA RYANAIR NO AEROPORTO DO PORTO: TRANSFORMAÇÕES NOS PADRÕES DE VIAGEM?
João Sarmento, Rui Rocha, Vítor Ribeiro, Nuno Miranda
Palavras chave: Ryanair, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, Transporte aéreo, Padrões de ViagemNuma altura em que a maior parte das discussões sobre o transporte aéreo em Portugal se centram em torno da localização do novo aeroporto de Lisboa, este artigo tenta ilustrar a importância da operação de companhias aéreas de baixo custo (Low Cost Carriers ou LCCs) no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um aeroporto com uma área de influência de cerca de 6 milhões de pessoas, e onde estas companhias são responsáveis por quase 30% da cota de mercado. Presentemente existem seis LCCs a operar neste aeroporto, das quais a Ryanair é a que oferece um conjunto mais alargado de destinos (13 no final de 2007). Pretende-se assim discutir os resultados de um estudo preliminar realizado em 2007 a 213 passageiros da companhia Ryanair nos voos com origem no Porto para os destinos de Madrid, Paris, Frankfurt e Londres, sendo o principal objectivo o de contribuir para a compreensão do papel das LCCs em Portugal e das transformações que estas podem ter nos padrões e comportamentos de viagem.
- SERVIÇOS INOVADORES DE TRANSPORTE EM ÁREAS RURAIS DE BAIXA DENSIDADE
O 'ELO FÍSICO' DA COESÃO SÓCIO-TERRITORIAL?
João Fermisson, Daniel Miranda
Palavras chave: áreas rurais de baixa densidade, transportes, acessibilidade, serviços colectivosEsta comunicação incide sobre a problemática da acessibilidade das populações residentes em áreas rurais de baixa densidade aos designados ‘serviços colectivos’, os quais se podem identificar como uma ‘oferta’ destinada a satisfazer necessidades básicas que, pela sua natureza específica, atribuem ao Estado o dever de garantir a existência de condições equitativas de ‘consumo’ por parte da ‘procura’. Num contexto de despovoamento continuado e de progressiva marginalização deste tipo de territórios e das respectivas populações, estuda-se o papel que a implementação de serviços inovadores de transporte em áreas rurais de baixa densidade poderá desempenhar em termos de minimização do ‘gap’ existente entre a oferta e a procura de serviços colectivos.
- TENTATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NOS CONCELHOS DO PINHAL INTERIOR SUL
Fernando Ribeiro Martins
Palavras chave: Pinhal Interior Sul, indústria, parque industrialOs concelhos do Pinhal Interior Sul (Mação, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova e Vila de Rei) são uma área marcadamente rural, onde a agricultura tradicional e a silvicultura foram até há poucas dezenas de anos as actividades dominantes. Os solos pobres de xisto e os declives acentuados da maior parte do seu território favorecem claramente a prática silvícola, sobretudo de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e também de algum eucalipto (Eucalyptus globulus) que os incêndios florestais têm dizimado ao longo das últimas décadas. Não admira portanto que os produtos florestais tenham constituído a sua principal riqueza e a existência de indústrias de transformação de madeira uma consequência directa.
Apesar de alguns exemplos históricos (poucos) de indústrias de sucesso, durante as últimas duas décadas multiplicaram-se os esforços e as tentativas de desenvolvimento industrial; cada concelho criou o seu próprio parque “industrial” e foi repetindo essa experiência, junto à sede de concelho ou de uma das suas freguesias. Actualmente, são já em número elevado (onze parques em cinco concelhos), mas as indústrias que aí se instalaram, entre as quais várias multinacionais, têm contribuído pouco para o desenvolvimento desta área e para a fixação de população residente por via da criação de emprego.
O que propomos nesta comunicação é uma “viagem” em torno das tentativas de desenvolvimento da indústria e das actividades que lhe têm estado associadas. - TRANSPORTES PÚBLICOS EM ÁREAS RURAIS
PERSPECTIVAS E ESTUDOS-CASO
Ana Santos Carpinteiro
Palavras chave: Transportes Públicos, Rurais, Equidade, Desenvolvimento RegionalDas dificuldades de fornecimento de ligações efectivas entre populações dispersas em aldeias e actividades e serviços nascem numerosos esforços de solucionamento e perspectivas que tentam fazem incidir luz sobre o problema da acessibilidade rural. Se a degradação de transportes públicos e serviços de aldeia, agravou a inviabilidade económica dos primeiros por um lado, e a utilidade do carro particular por outro, acresce a este cenário que as comunidades rurais são hoje muito menos auto-suficientes. Um hipotético padrão de dispersão de infra-estruturas e serviços de pequena escala é contrário à racionalização e centralização que orientam as políticas tanto do sector público como privado. Assim, o sector dos transportes assume-se como o âmbito da solução e a problemática do planeamento de transportes nesta matéria trata efectivamente de reconciliar três objectivos conflituantes: baixo custo, bons níveis de acessibilidade e cobertura geográfica ampla.
Contudo, às oposições problematizadoras entre os custos e a lógica própria de fornecimento em áreas rurais, entre a procura e as necessidades específicas, entre o retorno e a inexistência de limiares de procura, e entre as acessibilidades e a inviabilidade da oferta tradicional, acrescem ainda as questões do direito ao transporte e da equidade social. Consequentemente, reconhece-se que proporcionar melhores acessibilidades, e uma alternativa ao carro privado, ainda que tal não possa ser conjugado com um retorno mínimo, é um objectivo que permanece por integrar considerações como o factor ‘assistencial’ do estado providência e outras como o desenvolvimento regional, a questão demográfica e o apoio indirecto a actividades agrícolas.
Tendo como objectivo analisar esta dinâmica, uma amostragem de propostas e soluções é comparada tendo em conta perspectivas formuladas por vários autores e conjunturas políticas, económicas e sociais. Desenvolvimentos mais recentes destacam-se e enquadram-se no paradigma do desenvolvimento sustentável e da valorização da inovação tecnológica, reflectindo preocupações de mobilidade sustentável.
« Regressar à lista de eixos temáticos
