VI Congresso da Geografia Portuguesa / Comunicações
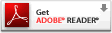
|
on-line | cópia local (versão 9.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows | Mac | |||
| www.adobe.com/reader |
Versão portuguesa Versão inglesa |
Versão portuguesa Versão inglesa |
||
- A ALTA VELOCIDADE FERROVIÁRIA COMO FACTOR DINAMIZADOR DA ECONOMIA NA REGIÃO NORTE: O TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO EIXO PORTO – VIGO
Vítor Patrício Rodrigues Ribeiro, Rui António Rodrigues Ramos, Francisco Carballo Cruz
Palavras chave: Planeamento Territorial, Transportes, IntermodalidadeNo contexto do desenvolvimento da rede ferroviária de alta velocidade projectada para Portugal, o corredor Porto – Vigo surge integrado no projecto prioritário n.º 19 da rede transeuropeia de transportes. Do ponto de vista geográfico esta ligação permitirá melhorar as acessibilidades existentes entre a região Norte de Portugal e a Galiza, potenciando as já fortes relações comerciais entre estas duas regiões. Paralelamente permitirá integrar esta região na rede ferroviária de alta velocidade, quer ibérica quer transeuropeia.
Esta comunicação pretende analisar e identificar as potencialidades da intermodalidade que deverá resultar da disponibilidade do transporte ferroviário de mercadorias em alta velocidade neste eixo. A análise será desenvolvida recorrendo a uma abordagem metodológica que desenhará cenários e implementará análises prospectivas assentes na interacção directa com os principais stakeholders responsáveis pela dinamização do transporte de mercadorias na região. - A ATUAL POLÍTICA CURRICULAR BRASILEIRA E O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Genylton Odilon Rego da Rocha
Palavras chave: Currículo, Políticas Curriculares, Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino de Geografia, Neoliberalismo, Educação Básica, BrasilA partir da segunda metade da década de noventa do século passado, uma nova política de estado, destinada a promover a reforma da educação brasileira, foi sendo implementada. Fazendo parte desta política maior, e recebendo especial destaque, novas determinações oficiais foram impostas para o currículo prescrito destinado à educação básica, incluindo-se aquelas destinadas ao ensino de geografia para este nível educacional. As análises por mim realizadas, resultante de um estudo de caráter qualitativo realizado por intermédio dos aportes metodológicos das pesquisas bibliográfica e documental, levaram-me a concluir que o currículo prescrito pelo governo brasileiro para o ensino de geografia, presentes nos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais, resulta da necessidade de fazer com que a escola e essa disciplina, venham a atender as novas demandas postas pelo capitalismo. Busco demonstrar que neste momento em que as idéias neoliberais promovem uma colonização da educação e do currículo, as geografias escolares de fundamentação positivista ou dialética que se fazem presentes nas salas de aula, tornaram-se entrave para o cumprimento do novo papel que se espera da escola. Para lhes contrapor, uma nova geografia escolar de fundamentação fenomenológica e construtivista foi selecionada pelo estado para ser veiculada no interior das escolas.
- A DIÁSPORA MACAENSE: ITINERÁRIOS MIGRATÓRIOS “MACAU-XANGAI” (1850-1909)
Alfredo Gomes Dias
Palavras chave: diáspora, macaense, itinerário migratórioEsta comunicação insere-se num projecto de investigação mais vasto subordinado ao tema da Diáspora Macaense, um movimento migratório que tem origem em Macau, no ano de 1842.
Na sequência da I Guerra do Ópio (1839-1842) e de acordo com o estabelecido no Tratado de Nanjing, a Grã-Bretanha tomou posse da ilha de Hong Kong. Com o nascimento da cidade Vitória nesta ilha iniciou-se, no mesmo ano, o movimento migratório que irá levar os macaenses a dispersarem-se por muitos outros destinos, um dos quais a cidade chinesa de Xangai.
Na segunda metade de oitocentos, Xangai conheceu profundas transformações e nela se instalaram diferentes comunidades estrangeiras, uma das quais portuguesa com origem na cidade de Macau.
Assim, neste estudo tentaremos (i) definir os conceitos diáspora e macaense, fundamentais para a análise da realidade social e económica que envolveu este movimento migratório; (ii) desenhar alguns dos principais itinerários migratórios ilustrativos da diáspora macaense; (iii) caracterizar política, económica e socialmente a cidade de Xangai na segunda metade do século XIX; (iv) apresentar alguns traços demográficos da emigração Macau-Xangai entre 1850 e 1909.
Para além da revisão da literatura que temos vindo a realizar no âmbito desta investigação, esta comunicação mobiliza a análise de documentação consultada em diversos arquivos portugueses.
Reconhecemos que este é um projecto de investigação que se encontra ainda a dar os seus primeiros passos. Mas, com este estudo, teremos oportunidade de colocar hipóteses e interrogações, que permitam abrir novas linhas de investigação. - A MOBILIDADE RESIDENCIAL NAS ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS
Ana Patrícia Nunes, Pascal de Moura Pereira
Palavras chave: Andaluzia, Áreas metropolitanas, mobilidade quotidiana, mobilidade residencialO fenómeno metropolitano constitui-se nos nossos dias como um dos mais importantes na medida em que, pressupõe a existência de uma nova forma de cidade, que se caracteriza essencialmente pela sua complexidade.
A mobilidade populacional, por ser uma das principais responsáveis pelos impactes observados, sobretudo ao nível territorial, correlaciona-se com o fenómeno em questão. A utilização de variáveis relacionadas com esta é de grande importância para a delimitação das áreas metropolitanas.
Uma dessas variáveis é a mobilidade residencial, que como parte integrante da mobilidade urbana, apresenta diversas causas e impactes que influenciam de forma determinante a sua intensidade.
Neste artigo, procura-se, aplicando o indicador referente à mobilidade residencial intermunicipal, identificar e analisar os principais fluxos ocorridos durante a década de 1991 a 2001 nas oito áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma Andaluza. - A MORFOLOGIA GRANÍTICA E O SEU VALOR PATRIMONIAL: EXEMPLOS NA SERRA DE MONTEMURO
António Vieira
Palavras chave: Morfologia Granítica, Património Geomorfológico, Serra de MontemuroA diversidade da morfologia granítica e sua originalidade imprime um cunho muito próprio e único às áreas de montanha granítica, dotando-as de características locais identificadoras, capazes de as tornar atractivas e procuradas para o desenvolvimento de actividades relacionadas com o turismo de natureza, com os desportos ao ar livre ou “radicais” e mesmo com a cultura ou educação.
Tendo este princípio em consideração, procedemos à análise das características e tipologia da morfologia granítica, partindo de classificações propostas por diversos autores, aplicando-as ao caso concreto da Serra de Montemuro.
Na sequência desta análise, pretendemos identificar e avaliar a importância dos elementos geomorfológicos enquanto elementos patrimoniais, tendo como base um conjunto de critérios de ordem diversa (científica, estética, ecológica, cultural…), tentando contribuir para a clarificação dos conceitos em torno do Património Geomorfológico, dos critérios para a sua classificação, sua valorização e promoção.
Servindo-nos do exemplo da Serra de Montemuro, desenvolvemos uma inventariação dos elementos patrimoniais geomorfológicos de maior valor, relacionados com a litologia granítica, e procurámos identificar as potencialidades inerentes a este tipo de Património Geomorfológico, no sentido da sua preservação e divulgação. - A SAGA DOS OGM´S
UMA REFLEXÃO POLÉMICA
Ana Firmino
Palavras chave: OGM´s, Biodiversidade, Segurança Alimentar, Princípio da Precaução, Agricultura Biológica, CoexistênciaA introdução dos OGM´s na União Europeia é bastante recente (Directiva 2001/18/EC). Não temos, portanto, o conhecimento suficiente para, duma forma inequívoca, garantirmos que, a médio ou longo prazo, estes não poderão vir a causar problemas ao ambiente e, até mesmo, à saúde dos consumidores, dado que a comercialização destes produtos se iniciou sem que tivesse decorrido um período suficientemente lato de experimentação.
As experiências em laboratório e em ensaio de campo não permitem avaliar os possíveis impactes de plantações em maior escala nem as alterações resultantes dum consumo continuado. Situações de polinização cruzada, que poderão contribuir para a diminuição da biodiversidade, no caso da agricultura, fuga de variedades geneticamente modificadas para o exterior, no caso dos peixes, e receios quanto à transparência na rastreabilidade e rotulagem dos produtos, são algumas das razões apontadas para a fraca adesão do consumidor europeu a esta inovação biotecnológica.
Nesta comunicação pretendo apresentar o resultado da minha investigação e reflexão quanto às motivações políticas e económicas, que jogam forte na imposição dum produto que, segundo o Princípio da Precaução, vigente na Lei de Bases do Ambiente da União Europeia, deveria primeiro dar provas da sua inocuidade, para o ambiente e para o consumidor, antes de ser aceite no mercado.
Por fim serão discutidas as implicações negativas em modos de produção sustentáveis, como é o caso da agricultura biológica (em que não é permitido utilizar OGM´s, mas que recente legislação da EU aceita venha a ser contaminada por estes até 0,9%) e os efeitos que esta situação poderá causar na imagem dos produtos de qualidade, em geral, se os esforços que estão a ser desenvolvidos, visando a adopção de medidas que permitam uma coexistência segura, não surtirem efeito. - A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CAPACIDADE DE CARGA PARA A GESTÃO E ORDENAMENTO DE PRAIAS. O EXEMPLO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA CAMINHA-ESPINHO
Carlos Pereira da Silva, Fátima Alves, Romana Rocha
Palavras chave: Praias, Gestão Integrada, Zona Costeira, TurismoA importância das áreas litorais para o recreio e lazer por parte de milhões de turistas em todo o mundo contribui para que a actividade turística, represente para os espaços litorais uma das maiores fontes de riqueza mas, simultaneamente, uma grande quota parte dos seus problemas ambientais. O rápido crescimento que esta actividade tem vindo a registar nos últimos 30 anos é frequentemente apontado como responsável pelas grandes alterações registadas na qualidade ambiental destas áreas. Desta forma, a crescente ocupação e massificação da faixa litoral vem gerando congestionamentos e desequilíbrios cada vez maiores, contribuindo para a crescente degradação da paisagem através da destruição dos valores naturais e consequente diminuição da sua biodiversidade.
As praias desempenham, neste contexto, um papel crucial, tornando cada vez mais importante a sua gestão e ordenamento, dentro de uma filosofia do desenvolvimento sustentável.
Conceitos como capacidade de carga aplicados de forma flexível e dinâmica tornam-se assim cruciais para estes espaços. Em Portugal, onde o turismo balnear desempenha um papel importante na economia nacional, o ordenamento destes espaços é determinante para a manutenção da sua capacidade de atracção.
Desde os anos 90, com a elaboração de Planos de Ordenamento da Orla Costeira a existência de Planos de Praia é obrigatória, sendo aí considerados vários parâmetros, desde os equipamentos, tipo e localização, até à necessidade de cálculo de capacidade de carga. No caso de estudo em análise, aplicado ao Norte de Portugal, quer a dinâmica litoral existente, quer as intervenções propostas no âmbito do Plano originalmente elaborado, alteraram algumas das características das praias, obrigando em alguns casos a necessidade de reequacionar algumas das capacidades de carga propostas, colocando assim novos desafios á sua gestão. Tenta-se assim demonstrar a validade do conceito de Capacidade de carga aplicado às praias, mas que deve porém ser utilizado de uma forma flexível e dinâmica. - ABANDONO AGRÍCOLA NO INTERIOR CENTRO E NORTE DE PORTUGAL: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO E IMPACTES HIDROGEOMORFOLÓGICOS
Adélia Nunes, A. Figueiredo, A. Campar de Almeida
Palavras chave: Abandono agrícola, Dinâmica da vegetação, Impactes hidrogeomorgológicos, Interior de PortugalO Interior Centro e Norte de Portugal registou, nas últimas décadas do passado século, um fenómeno de acentuado abandono agrícola, que, a par com alterações no tipo e regime de uso do solo, acarretaram mudanças importantes na paisagem rural. Estas mudanças devem-se, principalmente, ao processo de esvaziamento demográfico das áreas rurais, em consequência do enorme surto migratório, mas também à retirada de terras de produção (set-aside), favorecida pela Política Agrícola Comum.
Este trabalho pretende avaliar as consequências do abandono agrícola na dinâmica da vegetação, características físico-químicas dos solos, resposta hidrológica (escoamento superficial vs infiltração) e erosiva dos solos, com base na selecção de áreas-amostra representativas de diferentes etapas de abandono, tendo-se em alguns casos por referência parcelas com formações arbóreas autóctones.
Concluiu-se que, de um modo geral, os maiores escoamentos superficiais, a que correspondem as mais elevadas taxas de erosão hídrica, ocorrem em parcelas recentemente abandonadas, com cobertura vegetal descontínua, normalmente comunidades terofíticas, estando os valores mais baixos de erosão relacionados com situações de abandono mais antigo, dada a presença de formações arbustivas de elevada cobertura. Interpretadas como comunidades basais, estas formações arbustivas estão dominadas por leguminosas fabáceas do género Cytisus, apresentando normalmente elevada densidade e um evidente empobrecimento florístico.
As condições edáficas, o clima, a topografia e acções humanas subsequentes ao abandono (pastorícia, exploração de lenha, fogos florestais), controlam as condições das comunidades arbustivas instaladas no pós-abandono, que por sua vez interferem na resposta hidrogeomorfológica e condições físico-químicas dos solos. - APROPRIAÇÃO TURÍSTICA DAS IDENTIDADES TERRITORIAIS – A VALORIZAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS URBANOS
Maria Tereza Duarte Paes-Luchiari
Palavras chave: patrimônio cultural, turismo, centros históricos, planejamento territorialEsta reflexão busca contribuir com uma abordagem geográfica na interpretação das relações entre o território, as atividades turísticas e a identidade cultural. Ao tomar diferentes estratégias de valorização, apropriação e uso dos bens patrimoniais nas áreas urbanas centrais, hoje em processo de refuncionalização, sob a lógica comandada pela globalização económica e pelos seus processos constitutivos, como o turismo, buscamos melhor interpretar a incorporação do patrimônio histórico arquitetônico à esfera do consumo cultural, e a agregação de valor econômico às paisagens urbanas e aos lugares-símbolo de pertencimento de identidades territoriais.
- ÁREAS URBANAS, USO DO SOLO E PROTECÇÃO AMBIENTAL
José Eduardo Ventura
Palavras chave: áreas urbanas, uso do solo, protecção ambiental, região de Lisboa, inundaçõesA questão da protecção ambiental é, cada vez mais, um problema pertinente a equacionar nos processos de planeamento urbano pelas implicações que tem na vida das populações. Temas actuais como a alteração climática e o desenvolvimento sustentável reposicionam com destaque esta questão. Os cenários da mudança climática e suas incertezas dificultam a previsão dos efeitos da acção humana no funcionamento dos sistemas naturais e o desenvolvimento sustentável, conceito banalizado na agenda política, tem como um dos seus principais pilares o ambiente.
Neste contexto, a integração da protecção ambiental e o respeito pelo funcionamento dos sistemas naturais devem ser aprofundados na concepção de novos projectos urbanos e na requalificação dos antigos, sem esquecer as modificações introduzidas pela acção do homem. O rigoroso planeamento do uso do solo urbano permite mitigar os efeitos dos fenómenos extremos e concretizar o paradigma ambiental como um dos alicerces do desenvolvimento sustentável.
Nas áreas urbanas do nosso território e em particular na AML, existem múltiplos casos de desrespeito pela natureza, pela legislação vigente e pela segurança e bem-estar das populações.
As situações climático-hidrológicas extremas constituem um dos exemplos que tem posto em evidência a vulnerabilidade destes territórios, resultante da inadequada ocupação do solo que, em muitos casos, não atende aos seus condicionalismos naturais.
Nesta comunicação será feita uma reflexão sobre esta problemática, ilustrada com exemplos da região de Lisboa. - ARTICULAÇÃO TERRITORIAL DAS REGIÕES FRONTEIRIÇAS: OS CASOS PORTUGAL-ESPANHA E SUÉCIA-NORUEGA NO ÂMBITO DO INTERREG-A
Eduardo Medeiros
Palavras chave: PIC INTERREG-A, Efeito Barreira, Fluxos, Redes Territoriais Transfronteiriças, Regiões de Fronteira, Cooperação TransfronteiriçaA criação do mercado único europeu criou condições para a redução do efeito barreira nas regiões de fronteira, que têm vindo a beneficiar dos recursos financeiros provenientes da iniciativa comunitária INTERREG-A (cooperação transfronteiriça), ao longo dos últimos 15 anos, para colmatar o fraco dinamismo socioeconómico e o défice infra-estrutural que caracteriza boa parte destas regiões.
Neste texto pretendemos realçar a contribuição do PIC INTERREG-A, através da análise de todos os projectos aprovados, para a reconfiguração de dois espaços fronteiriços: Portugal-Espanha e Suécia-Noruega, em cinco dimensões de análise distintas: Institucional / Urbana; Cultural / Social; Ambiental / Patrimonial; Acessibilidade; Economia / Tecnologia.
Cada uma destas dimensões de análise associa-se de forma privilegiada aos vários tipos de fluxos que podem ser observados nas regiões de fronteira (transportes, de informação, migratórios, casa-trabalho, financeiros, comerciais, institucionais, turísticos, culturais, ambientais), e que, ao aumentarem significativamente a sua densidade, podem contribuir para a articulação territorial e o estabelecimento de redes territoriais transfronteiriças nestas
regiões. - AS MARÉS NEGRAS EM SINES
CARACTERIZAÇÃO DOS DERRAMES DE PETRÓLEO NA COSTA DE SINES
Miguel Costa do Carmo
Palavras chave: Sines, maré negra, petróleo, poluiçãoNo Porto de Sines e na costa envolvente, a Marinha registou desde 1973 – data que corresponde ao início da actividade do terminal petroleiro - 93 derrames de hidrocarbonetos no mar, que totalizam mais de 6 000 toneladas. Deste valor, 75% corresponde ao acidente com o navio-tanque Marão a 14 de Julho de 1989, que libertou cerca de 4 500 ton. de petróleo no interior do porto. Para uma melhor noção de escala, mencione-se que o Prestige derramou aproximadamente 63 000 ton., dez vezes mais.
Este tipo de poluição ocorre, genericamente, em operações de transporte (acidentes com petroleiros, operações com navios, despejos de lastro e lavagens de tanques) ou em instalações fixas (refinarias costeiras, explorações “off-shore”, terminais). Em Sines, destacam-se como fontes de poluição os acidentes no porto e a lavagem ilegal de tanques ao largo. Estas descargas operacionais traduzem-se, devido à natureza difusa e clandestina do fenómeno, numa difícil identificação e quantificação dos eventos. Acrescenta-se ainda o risco de poluição associado à refinaria da Galp instalada junto à costa.
É feito um levantamento exaustivo dos derrames ocorridos na costa de Sines, debruçando-se sobre as consequências, através do cruzamento dos registos da Marinha com o arquivo de imprensa da Hemeroteca. Neste contraponto, a base de dados extensa da Marinha é enriquecida com a descrição dos eventos mais mediáticos. Com esta informação procura-se fazer uma leitura cartográfica dos derrames em Sines, assinalando os locais dos principais derrames e das zonas do litoral afectadas.
Esta pesquisa pretende substituir a ideia de acidente, como referência a um acontecimento fortuito e/ou associado ao erro humano, pela ideia de persistência de uma situação de risco. Em Sines ocorre um elevado número de pequenos derrames espalhados no tempo, resultado directo do conjunto de usos que caracterizam aquela costa: a) no Porto de Sines entra 60% do petróleo consumido em Portugal; b) cerca de 30% do petróleo mundial
(12 navios/dia) utiliza corredores marítimos na ZEE portuguesa. - AS NOVAS MIGRAÇÕES IBÉRICAS E O FENÓMENO DE SEGUNDA RESIDÊNCIA NO LITORAL DO NORDESTE BRASILEIRO
A FORMAÇÃO DE TERRITÓRIOS DE EXCLUSÃO NA BAHIA, CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE
Paulo Roberto Baqueiro Brandão, Evanildo Santos Cardoso, Luís Gustavo de Lima Sales,Joanito de Andrade Oliveira
Palavras chave: Migrações internacionais, Fenômeno de segunda residência, Territórios de exclusão, Litoral da região Nordeste do BrasilEsta comunicação resulta de uma reflexão crítica sobre as implicações socioespaciais decorrentes da formação de territórios de exclusão em localidades turísticas assentadas em trechos litorâneos dos estados nordestinos da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte e que são apropriadas pelos agentes imobiliários cuja ação está voltada à construção de empreendimentos de alta renda que vinculam as comodidades de uma moradia extremamente tecnicizada às amenidades de habitar junto às praias de águas mornas e de bucólicas vilas de gente dócil – ou receptiva, para usar um eufemismo típico de anúncios turísticos. Estes imóveis, comercializados em agências européias – principalmente em Portugal e Espanha – ou pela internet como habitações de segunda residência produzem novas formas de migração internacional, sejam temporárias ou permanentes, de cidadãos com níveis de renda muito superiores àqueles que ali habitam tradicionalmente, além da exclusão socioespacial e dos impactos ao meio físico que decorrem da construção de formas de habitar auto-segregadas em ambientes frágeis, como mangues, dunas e restingas.
- AS RESIDÊNCIAS DE USO SECUNDÁRIO NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Gilda Dantas
Palavras chave: segunda residência, espaço rural, turismoAs residências de uso secundário poderão ser um factor dinamizador da sociedade local, desde que o desenvolvimento seja feito de forma moderada, atendendo às características de cada lugar e à sua capacidade de carga. Temos de tomar em atenção que o desenvolvimento incontrolado de residências secundárias conduz a situações de difícil reparação.
Estes alojamentos apresentam uma grande dispersão espacial, podendo ocorrer em praticamente todos os espaços, quer sejam de ocupação urbana, zonas florestais, praias ou espaços agrícolas.
Na região Autónoma da Madeira, a modalidade de residência secundária mais difundida é a casa unifamiliar que consome uma grande quantidade de solo. Estas são construídas, a maior parte das vezes, sem tomar em atenção a arquitectura local e os materiais de construção, pelo que é necessário estabelecer medidas que regulamentem e orientem o desenvolvimento de tais vivendas. Apostar nos Planos de Pormenor para as áreas de maior pressão urbanística, tal como está previsto nos PDM, será a melhor forma de os interesses de toda a população se sobreporem aos desejos dos particulares, tão difíceis de gerir. - ÀS VOLTAS COM A DIMENSÃO ESPACIAL DO DESEMPREGO E COM A VULNERABILIDADE À EXCLUSÃO SOCIAL
Sónia Alves
Palavras chave: desemprego, dimensão espacial, pobreza, efeitos de áreaNum momento em que aumentam os valores do desemprego, sobretudo os de longa duração, e em que o emprego é considerado uma das principais esferas da inclusão social, o objectivo desta comunicação é contribuir para o debate sobre o desemprego de uma perspectiva geográfica, alertando para o facto deste ser um fenómeno social mas também espacial, existindo pessoas, grupos, comunidades, mas também territórios, com maiores dificuldades de adaptação aos desafios e aos ritmos das mudanças estruturais em curso no emprego.
O artigo divide-se em duas partes.
Na primeira, desenvolve-se uma reflexão teórica em torno das relações que se estabelecem entre o desemprego e a pobreza e entre o desemprego e a exclusão social, notando-se como estas relações resultam de combinações de geometria variável nos laços que ligam os indivíduos desempregados às esferas da protecção social do Estado e da família.
Na segunda, desenvolve-se uma abordagem empírica à problemática para o contexto do Porto: a partir da leitura e da interpretação de gráficos e de mapas, analisa-se a trajectória evolutiva do desemprego no Grande Porto e as suas principais formas de organização espacial no concelho central desta área metropolitana. A interpretação dos padrões espaciais do desemprego é feita à luz de algumas hipóteses explicativas que ajudam a compreender a variação intra-urbana do fenómeno, nomeadamente das que consideram os processos de recomposição espacial da oferta e da procura de emprego, e as decisões de concentração espacial de população desempregada no âmbito de políticas de habitação social e de planeamento do território. O artigo termina sublinhando os efeitos negativos de processos de concentração espacial de população desempregada em áreas residenciais que concentram múltiplas desvantagens, argumentando a importância de uma mudança nas culturas e nas práticas do planeamento e da gestão do território para a criação de comunidades mais sustentáveis ao longo do tempo. - ATLAS DO AMBIENTE
ESPÉCIES DE FAUNA PROTEGIDAS EM PORTUGAL CONTINENTAL
Ana Costa, Lara Baião
Palavras chave: Sustentabilidade ambiental, fauna, cartografia, espécies protegidasNos dias de hoje, a sustentabilidade ambiental tem sido uma temática muito debatida, devido não só à sua importância, como também ao despertar da consciência das pessoas para os problemas com ela relacionados.
Esta sustentabilidade implica directamente a preservação da biodiversidade, ou seja, a conservação de todas as espécies animais (fauna) e vegetais (flora) existentes, bem como a salvaguarda da variabilidade dentro de cada uma das espécies. Este aspecto, em última instância, torna-se também muito importante para a manutenção das condições de vida do Homem.
Apesar de terem sido tomadas várias medidas de acção para viabilizar a manutenção desta sustentabilidade, como a implementação de leis directamente relacionadas com a fauna e da flora, a criação de parques, reservas naturais e da Rede Natura 2000, entre outras, existem parâmetros que não são passíveis de controlo. Não se pode ditar regras aos animais e dizer-lhes onde podem ou não alimentar-se e procriar, bem como não se pode controlar o vento para disseminar as sementes em áreas restritas. Este facto torna importante o conhecimento da localização das espécies que, por se encontrarem em minoria ou em vias de extinção, podem induzir um desequilíbrio na natureza o que consiste numa ameaça à sustentabilidade ambiental.
Este mapa representa a localização das espécies de fauna protegidas, cuja importância recai sobre a temática da conservação da sustentabilidade, uma vez que o conhecimento da localização das espécies ameaçadas permite uma melhor intervenção, visando a sua preservação. O mesmo foi elaborado com base em levantamentos realizados no terreno por biólogos, relativos a cada uma das espécies protegidas das quatro classes taxionómicas, designadas por, Anfíbios e Répteis, Mamíferos, Aves e Invertebrados. Porém, dado o elevado número de espécies (112), uma representação fiável e compreensível das mesmas era inviável, dada a escala do mapa (1:1 000 000).
Assim, as espécies foram aglutinadas de acordo com as suas respectivas classes e generalizadas no mapa das Espécies de Fauna Protegidas em Portugal Continental. - AVALIAÇÃO DA PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL
João Verde, José Luís Zêzere
Palavras chave: risco, perigosidade, floresta, incêndiosO fogo é um fenómeno natural que faz parte da estratégia de desenvolvimento de algumas espécies e da renovação da paisagem, que modela as florestas e que é anterior às tentativas do Homem para lhe fazer frente. Em Portugal continental sofrem-se ano após ano prejuízos elevados resultantes da destruição de edificado e de vastas áreas de povoamentos florestais dos quais as populações retiram rendimentos, o que justifica a necessidade de se avaliar a perigosidade de incêndio florestal. A utilização de variáveis com forte relação espacial para elaboração de um mapa de susceptibilidade e respectivas curvas de sucesso e de predição, com recurso a validação independente, permitiu avaliar a perigosidade para todo o país, com base probabilística associada a cenários. Demonstra-se neste trabalho que com um compromisso eficaz entre o número de variáveis e a capacidade preditiva é possível avaliar com objectividade a perigosidade de incêndio florestal.
- AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AO RISCO NO MUNICÍPIO DE OEIRAS
Cristina Henriques, Michael Rodrigues
Palavras chave: Risco, Perigosidade, Vulnerabilidade, SIGO trabalho desenvolvido teve como objectivo principal, desenvolver e aplicar, uma metodologia para a representação espacial da vulnerabilidade ao risco no concelho de Oeiras.
Esta representação foi conseguida através da hierarquização do espaço concelhio em três componentes da vulnerabilidade geral ao risco: 1) Vulnerabilidade Ambiental; 2) Vulnerabilidade Social; 3) Vulnerabilidade Económica.
Ao avaliarmos a vulnerabilidade estamos a representar espacialmente a sensibilidade do território, com o objectivo de identificar áreas onde o potencial dano causado com a ocorrência de um qualquer evento danoso seja maior. O mesmo tipo de evento danoso ocorrendo com a mesma intensidade em territórios diferentes, pode provocar fortes disfunções num, não afectando o outro. Neste caso, embora a susceptibilidade dos dois territórios possa ser semelhante, a sua vulnerabilidade face ao evento danoso é distinta, resultando em que o risco seja também diferenciado para os dois territórios em questão. É a vulnerabilidade que explica o porquê dos diferentes níveis de risco de diferentes territórios ao serem submetidos a eventos danosos de igual intensidade. A avaliação da vulnerabilidade de um território é assim um passo intermédio na avaliação do risco. Assim sendo, a equação mais genérica para expressar o risco é dada por:
Risco = Perigosidade x Vulnerabilidade - CAPITAL SOCIAL, INOVAÇÃO E INCLUSÃO: O PROJECTO RAÍZES NA FREGUESIA DE MONTE ABRAÃO
Maria João Barroso Hortas
Palavras chave: capital social, inovação social, integração, inclusãoEsta comunicação pretende analisar a intensidade e as formas do capital social mobilizado pelos agentes sociais (promotor e parceiros) que participam no projecto Raízes (Programa Escolhas, 3ª geração), na freguesia de Monte Abraão, procurando explicá-las como um dos recursos fundamentais do processo de inclusão das crianças e jovens imigrantes. Pretendemos demonstrar em que medida a dimensão relacional do capital social, redes e relações de confiança (Putnam, 1993), facilita as formas de coordenação e cooperação e se assume como um recurso capaz de conferir um carácter inovador na concepção e implementação do projecto.
A inovação surge aqui na perspectiva definida por Alter (2000), como um movimento permanente que mobiliza o conjunto dos actores, dependendo fundamentalmente da forma como estes e os agentes se mobilizam e dão uso ao capital social.
Para atingir os objectivos deste estudo recorremos, numa primeira fase, à análise do texto do projecto de candidatura identificando o seu público-alvo, agentes intervenientes, objectivos, medidas e acções nas respostas às necessidades identificadas. Num segundo momento, centramos a nossa investigação na realização de entrevistas e questionários a agentes envolvidos no projecto, de modo a compreender a forma como se organizam, a densidade e tipo de contactos que mantêm, as redes de relações internas e externas que constroem, conferindo ao projecto a dimensão “inovação”. - CENÁRIO AMBIENTAL E URBANO DE VIANA DO CASTELO
DINÂMICA E TENDÊNCIA DOS RISCOS NATURAIS EM DOIS LUGARES DE ESTUDO
José da Cruz Lopes
Palavras chave: cidade-média, ambiente urbano, fenómenos naturais; sustentabilidade localPor Carta régia de 1848 a urbe marinheira e comercial da Vila da foz do Lima foi elevada à categoria de Cidade para, anos mais tarde, se qualificar como Capital de Distrito e, nas últimas décadas do último século, passar a integrar o grupo nacional das cidades-médias, as quais irradiam dinâmicas de expansão que configuraram novos perímetros urbanos e intencionalmente se apropriam das qualidades cénicas dos biótopos e das amenidades ambientais que estas encerram. Viana do Castelo tem, em 2000, o seu projecto urbanístico na Polis.
O Rio Lima e o seu Estuário, o Monte e o Mar geraram personalidade urbana, singular posição geográfica e qualificado cenário ambiental a esta antiga Urbe vianense. Mas estes “acidentes” sempre competiram entre si e ambos se envolveram e desenvolveram à medida e à escala ditada pela pressão humana e clara aspiração e conquista de urbanidade, em particular em finais do séc. XIX e também do séc. XX. A função piscatória e comercial potenciou um novo Porto de Mar, uma moderna fácies de urbanidade e outra dimensão de «fazer cidade». A nossa reflexão inicial é situar e problematizar estas dinâmicas e tendências urbanas da Cidade e confrontar as últimas intervenções urbanísticas com os cenários ambientais actuais e o contexto de relação cénica desses sistemas naturais, constituintes deste território urbano.
Através de dois exemplos de lugares urbanos (um costeiro e a poente, outro de vertente, a nascente) com particulares realidades ambientais e de ecologia urbana local, questionamos alguns pressupostos usados para o projecto de programa(s) urbanístico(s), bem como explicitamos um quadro de riscos naturais associados à sua própria sustentabilidade no próximo futuro. - CIDADES E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – A IMPLEMENTAÇÃO DAS CICLOVIAS E O USO DA BICICLETA EM MEIO URBANO
Ana Márcia FerreiraAs cidades assumem-se, cada vez mais, como entidades territoriais que, pela elevada e diversificada concentração de pessoas e actividades, constituem um espaço privilegiado de relações sociais, comerciais, profissionais e de lazer. A utilização intensa de modos de transporte motorizados e poluentes que, pelas suas características geram externalidades negativas significativas, nomeadamente ao nível do estacionamento ou do ruído, apresenta-se como um sério obstáculo à circulação nas cidades, afectando o bem-estar dos seus habitantes.
A questão da Mobilidade tornou-se um elemento decisivo para o desenvolvimento sustentável das cidades. É neste âmbito, que se pretende focar a necessidade de desenvolver práticas de mobilidade assentes em modos de transporte mais sustentáveis. Num contexto de desenvolvimento da Mobilidade Sustentável, surge a criação de ciclovias, apresentando-se como uma alternativa ao uso do automóvel nas deslocações diárias. Esta, apresenta-se como uma solução para a circulação nas cidades, pois constitui uma das opções para vencer pequenas e médias distâncias, mas também se anuncia como a melhor combinação a ser integrada com os transportes colectivos.
São expostas ainda, as várias opções a ponderar para a implementação de ciclovias, visto nem sempre as escolhas tomadas terem o mesmo nível de eficácia em todas as cidades. Cada caso é singular, para tal há que apresentar a opção que melhor se adapta às características físicas e funcionais de cada território. - CONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS DA SEGUNDA RESIDÊNCIA
O CASO DA FREGUESIA DO CASTELO – SESIMBRA
Cristina Barbosa
Palavras chave: segunda residência, ordenamento do território, mercado de habitaçãoA urbanização constitui um processo complexo que envolve componentes sociais, culturais, económicas e territoriais originando alterações nos modos de vida e nos usos do tempo, novos valores, comportamentos e consumos que irão reflectir-se em novas formas de estar e de habitar o território.
Com a modificação dos padrões de consumo e lazer, a procura de habitação não se restringiu à primeira habitação. Desde os anos 70/80 que a procura de segunda residência tem vindo a aumentar a um ritmo acelerado, reflectindo-se em novas dinâmicas territoriais, num aumento da pressão sobre o uso do solo e na manutenção de perímetros urbanos alargados e descontínuos. Mais do que a residência secundária, as “residências múltiplas” têm-se tornado componentes essenciais no processo de ocupação do território, não só, por indiciarem formas complexas e evolutivas de “habitar” mas também pelas suas repercussões no mercado de habitação e no “boom” imobiliário. Todas estas dinâmicas exigem novas respostas no âmbito do planeamento e gestão do território.
Neste contexto, a presente comunicação tem um duplo objectivo, por um lado, compreender a diversidade e funcionalidade das segundas residências e, por outro, identificar as suas implicações no ordenamento do território, tendo como caso de estudo a freguesia do Castelo em Sesimbra por apresentar uma dinâmica interessante no contexto da Área Metropolitana de Lisboa. - CONSIDERAÇÕES SOBRE A REFORMA DO RJIGT E DO RJUE
Demétrio Alves
Palavras chave: Regimes Jurídicos, Instrumentos de Gestão do Território, Urbanização, Edificação, Planeamento, DescentralizaçãoEmbora não sendo tudo, no que tem que ver com o planeamento e a gestão do território, e no que ao modo de fazer urbanismo e edificação diz respeito, os diplomas legais de enquadramento jurídico destas importantes áreas, têm uma função determinante no sentido técnico, económico e político por onde se desenvolve o ordenamento do território.
Verifica-se que, tanto nos diplomas legais que enquadram o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT), como naqueles que definem o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), se vêm registando desfasamentos político-institucionais (falta de descentralização para os municípios e redundâncias nas metodologias de processamento administrativo, por exemplo). Por um lado existirão deficits de eficácia no controlo qualitativo da urbanização e edificação, e, por outro, morosidades anti-económicas para os agentes que operam construtivamente sobre o território.
O governo entendeu alterar o RJIGT e o RJUE, tendo aprovado em 14 de Junho último um conjunto de diplomas que, nesta altura, se encontram a tramitar na Assembleia da República.
Esta comunicação pretende fazer algumas considerações sobre a matéria. - CONTRIBUTOS DO PLANEAMENTO TERRITORIAL PARA O
COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO
José Lúcio
Palavras chave: Pobreza, Gestão do TerritórioDesde os anos sessenta que as questões associadas à pobreza e à exclusão social têm vindo a ganhar relevância dentro da comunidade científica. Disciplinas como a Sociologia e a Economia ocuparam, desde muito cedo, lugar de destaque nos intensos debates sobre as causas e as consequências dos fenómenos de empobrecimento. Particularmente relevantes foram sem dúvida os debates e os estudos que se seguiram, do outro lado do Atlântico, após a famosa declaração de “Guerra à Pobreza” (“War on Poverty”) pelo então Presidente Lyndon Johnson (em 1964).
Entre os anos sessenta e meados dos anos oitenta o debate centrou-se, em larga escala, em questões associadas quer aos nexos de causalidade explicativos da pobreza e da exclusão, quer a toda a problemática relativa ao corpo complexo de consequências, derivadas da manutenção de grupos sociais numa situação de indigência. Assistiu-se, também, a esforços teóricos no sentido de providenciar instrumentos e metodologias de medição/avaliação do fenómeno a que designamos genericamente por pobreza.
Posteriormente, o debate centrou-se, como seria de esperar, no “outro lado da moeda”, ou seja, nas estratégias de combate à pobreza e à exclusão. Neste sentido, as ciências sociais, com natural destaque para a Economia e Sociologia e, mais recentemente, a Geografia, apresentaram importantes contributos para enriquecer um quadro estratégico de combate às manifestações de pobreza e exclusão.
A presente comunicação encerra como objectivo principal a pesquisa de quais poderão ser as contribuições do planeamento territorial, enquanto importante actividade de natureza estratégica, para uma política integrada de redução da pobreza e da exclusão. Num momento em que reconhecidamente se assiste ao ganho de consciência de que não basta crescer ou, até mesmo, desenvolver, para que as sociedades seculares se tornem mais justas e equitativas, a nossa comunicação pretende explorar vias de actuação para os planeadores do território. Assim,
podemos definir como grande objectivo para a nossa comunicação a procura de respostas para a seguinte questão: Que estratégias, sobretudo a nível local, se podem desenvolver no âmbito das actividades de planeamento, para garantir que o esforço de planear se traduza em modelos territoriais mais solidários? - CURITIBA, CIDADE-PARADIGMA DO PLANEAMENTO URBANO INTEGRADO: UMA VISÃO DOS TRANSPORTES URBANOS
Mafalda Estevão
Palavras chave: Planeamento Urbano Integrado, Rede Viária, Transporte Colectivo Urbano, ZonamentoA cidade de Curitiba constitui um notável exemplo do que se pode entender, em sentido lato, por planeamento urbano integrado uma vez que, no modelo de planeamento referente à organização geral do seu território, são consideradas, integradamente, as vertentes social, económica e ambiental.
As soluções inovadoras que Curitiba tem vindo a pôr em prática (desde a década de 40), e que têm permitido ser eleita, a nível internacional, como um paradigma de desenvolvimento urbanístico equilibrado, tiveram na sua génese conceitos precisos quanto ao tipo de planeamento urbano a implementar.
Ora, é neste contexto, que se procura dar cumprimento a um crescimento urbano de tipo linear, desenhado ao longo de (cinco) eixos urbanos estruturais pré-estabelecidos, que privilegie ligações alternativas independentes da área central, evitando a geração de volumes de tráfego insustentáveis tão característicos das grandes cidades. Esta rede viária é servida por transporte colectivo urbano (autocarro) que se desenvolve naquilo a que se designa por Rede Integrada de Transportes, sendo esta, por sua vez, constituída por um conjunto de linhas, de trajecto e dimensão variáveis.
Com efeito, tendo como referência o caso de Curitiba, a presente comunicação discute o papel dos sistemas de transporte colectivo (e respectiva rede de suporte) enquanto factores de desenvolvimento territorial sustentável, abordando as diferentes dimensões que lhe estão subjacentes. - DA CIDADE ESTILHAÇADA: NOBILITAÇÃO URBANA E PRODUÇÃO SOCIAL DO ESPAÇO FRAGMENTADO
Luís Mendes
Palavras chave: Nobilitação urbana, Fragmentação socio-espacial, Cidade pós-moderna, Cultura de consumo, Estetização da vida social, LsboaÉ indubitável que as últimas décadas têm assistido à formação de um novo tipo de cidade a que, por comodidade e na falta de melhor expressão, se designa de pós-moderna. A cidade compacta, de zonamento social estanque e de limites precisos, cujo centro evidencia uma relativa homogeneidade social, estilhaça-se num conjunto de fragmentos distintos onde os efeitos de coesão, de continuidade e de legibilidade urbanística, dão lugar a formações territoriais mais complexas, territorialmente descontínuas e sócio e espacialmente enclavadas.
Este processo deve-se, em parte, ao facto de, desde finais dos anos 60, o mercado de habitação das cidades do capitalismo avançado, respondendo a uma crescente fragmentação e complexidade sociais, ter vindo a sofrer transformações significativas, através da emergência de novos produtos imobiliários e de novos formatos de alojamento, influenciando a organização espacial urbana no sentido de uma maior segregação a micro-escala.
Recorrendo ao Bairro Alto, como caso ilustrativo, daremos particular atenção às formulações teóricas que defendem que esta tendência de nobilitação urbana, enquanto processo específico de recentralização socialmente selectiva nas áreas centrais da cidade, tem contribuído para a fragmentação social e residencial do espaço urbano contemporâneo. O Bairro Alto, na cidade de Lisboa, ainda que receptáculo de enraizadas e antigas manifestações e tradições culturais, tem, nos últimos anos, assistido a profundas alterações no seu tecido social com a chegada de novos moradores que, portadores de um estilo de vida muito próprio, produzem uma apropriação social pontual e reticular do espaço-bairro. - DESASTRES NATURAIS NO BRASIL: UMA QUESTÃO SOCIAL NA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Luís Eduardo de Souza Robaina
Palavras chave: Desastres naturais, ocupação urbana, áreas de riscosO Homem interfere no ambiente, criando novas situações, sendo as cidades o maior exemplo.
Neste trabalho busca-se fazer uma reflexão como a configuração espacial, no meio urbano, é uma manifestação de processos sociais e históricos específicos que estão associados ao modo de produção dominante e às transformações que o modelaram ao longo do tempo e estão intimamente ligados a ocorrência de desastres naturais e as áreas de risco no Brasil. O crescimento desordenado das cidades, controlado principalmente por interesses privados e especulativos, é considerado como um condicionante de desastres. A redução de estoques de terrenos em áreas seguras, e sua conseqüente valorização, provocam o adensamento dos estratos populacionais mais vulneráveis em áreas de riscos.
A amplitude dos danos e perdas provocados por uma catástrofe, depende em primeiro lugar da natureza e da magnitude das suas causas, mas também das características do espaço territorial em que ocorre. A vulnerabilidade de uma região a tais riscos depende de fatores tão diversos como a densidade populacional, a natureza dos seus bens tecnológicos e culturais, o tipo de organização social e econômica e a capacidade exibida pelas comunidades para enfrentarem os diferentes fatores de risco. Um desastre exprime a materialização da vulnerabilidade social. O aumento dos desastres está intimamente conectado com o crescente processo de subdesenvolvimento e marginalização social.
Por isso, a definição das áreas de risco no Brasil deve ser visto como resultado da interface de uma população marginalizada e um ambiente físico deteriorado. - DUAS DÉCADAS DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA: ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS E DINÂMICAS TERRITORIAIS EM PORTUGAL
Iva Pires, Flávio Nunes
Palavras chave: Geografia Económica, Dinâmicas Sectoriais, Estrutura do Emprego, Especializações Produtivas, Portugal, Integração EuropeiaDecorridas que estão duas décadas do momento da adesão de Portugal à então CEE
(Comunidade Económica Europeia) e, por conseguinte, do lançamento do desafio da convergência de Portugal aos níveis médios de desenvolvimento europeu, importa avaliar as mudanças estruturais registadas ao longo deste período, especialmente ao nível do processo de reestruturação e modernização do sistema produtivo nacional. Com esta comunicação far-se-á uma análise do sentido de evolução do modelo económico português, a partir de meados da década de 1980, com o objectivo de conhecer como a estrutura empresarial nacional se tem reajustado face aos desafios do processo de globalização económica, marcado não só pela abertura de novos mercados para produtos e serviços, mas sobretudo pelo acréscimo da concorrência empresarial que advém da progressiva liberalização do comércio à escala mundial e da crescente facilidade de circulação de capitais, informações, conhecimentos, produtos, tecnologias e recursos humanos. - ESBOÇO DO PERFIL DO INCENDIÁRIO NA SERRA DA CABREIRA
ALGUMAS DEBILIDADES DA INFORMAÇÃO DENDROCAUSTOLÓGICA
António José Bento Gonçalves
Palavras chave: Serra da Cabreira, incêndios florestais, perfil do incendiário, debilidades da informaçãoUm dos problemas que muitas vezes surge na investigação científica de incêndios florestais é o acesso à informação e, principalmente, a qualidade dessa informação.
A nossa investigação, visando traçar o perfil do incendiário florestal na serra da Cabreira, onde recorremos à informação do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, da Polícia Judiciária e da Direcção Geral dos Recursos Florestais, revela-se um bom exercício de demonstração de diferentes debilidades da informação dendrocaustológica - ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E DISCURSO DO “DECLÍNIO” EM POLÍTICAS DE REABILITAÇÃO URBANA NO BRASIL E NA EUROPA
Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior
Palavras chave: Desenvolvimento, Declínio, Reabilitação Urbana, Europa, BrasilO discurso do “declínio” econômico e de degradação dos centros das cidades contemporâneas tem impulsionado a possibilidade de inserção econômica dessas mesmas cidades dentro de um cenário nacional, macro-regional ou mundial. Esse tipo de discurso, presente nas políticas de desenvolvimento local, de desenvolvimento regional e nas operações de interesse nacional,
é seguido de uma estratégia de mercado, que coloca a necessidade de práticas de reabilitação/requalificação urbana responsáveis por dar visibilidade às cidades, tornando-as mais competitivas, como acontece nas experiências de Marselha, no sul da França, e de Belém, na Amazônia brasileira, consideradas na presente análise. - ESTUDO DO RISCO SÍSMICO E TSUNAMIS NO ALGARVE (ERSTA)
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA DETERMINAÇÃO DAS VULNERABILIDADES HUMANAS
José Rodriguez, Margarida Queirós, Eduardo Brito Henriques, Pedro Palma, Teresa Vaz
Palavras chave: Algarve, risco sísmico, vulnerabilidades humanas, população presente, mobilidade espacial quotidianaPela sua proximidade às placas euro-asiática e africana, o Algarve apresenta uma perigosidade sísmica elevada. Perante esta ameaça, torna-se indispensável conhecer e quantificar as vulnerabilidades humanas na comunidade regional, de forma a se poderem estimar os danos directos a ela associados.
Reconhecendo a importância deste risco natural, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) em parceria com diversas instituições universitárias está a desenvolver o Estudo do Risco Sismico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA, 2007-08), No âmbito deste estudo, o CEG/FLUL é a entidade responsável pelo estudo das vulnerabilidades humanas.
Esta comunicação tem por objectivo apresentar os principais aspectos metodológicos da determinação das vulnerabilidades humanas, que se organiza em duas etapas. Numa primeira, é realizado o diagnóstico dos elementos vulneráveis, baseado na caracterização demográfica e socio-económica; no estudo das localizações de maior atractividade e concentração; a caracterização das deslocações diurnas, semanais e sazonais da população residente e presente. Na segunda etapa estabelece-se a dimensão das vulnerabilidades humanas, por intervalo de tempo, período do ano e unidade espacial, através do cálculo da população presente, considerando os padrões de mobilidade da população residente e não residente.
Os resultados obtidos ao nível das vulnerabilidades humanas serão integrados num simulador em SIG, que permitirá através do estabelecimento de cenários sísmicos e a previsão dos danos associados, apoiar os serviços de protecção civil na elaboração e gestão dos referidos planos especiais de emergência. - ESTUDOS DE ETNO-DESENVOLVIMENTO – OS ÍNDIOS AYMARA DOS ANDES CENTRAIS
Isabel Maria Madaleno
Palavras chave: Etno-desenvolvimento, Civilização Andina, Água, Nichos Agro-EcológicosNo ano de 2003 o Instituto de Investigação Científica Tropical iniciou uma linha de pesquisa votada ao estudo dos últimos redutos de civilizações perdidas, como é o caso das andinas, dos descendentes das culturas de Tiwanaku e Incaica, com o objectivo de resgatar as fórmulas ancestrais de exploração dos recursos naturais de forma ambiental e economicamente sustentável, que pudessem servir de modelo de sustentabilidade a outros ecossistemas frágeis
das Regiões Tropicais. Durante dois verões consecutivos uma equipa luso-chilena percorreu o Sul do Peru, Norte do Chile e a metade ocidental da Bolívia buscando as fórmulas ancestrais de gestão dos recursos hídricos e edáficos, tendo explorado 30 aglomerados esparsos pela Cordilheira Andina e percorrido acima de 6.000 km de estradas e caminhos pelos altos planaltos, vertentes das montanhas e desertos costeiros. Analisámos e documentámos a singular organização espacial dos povos indígenas, o arquipélago Aymara, que se dizem legítimos descendentes dos Tiwanakotas das margens do Lago Titicaca, constituída por cinco andares e outros tantos nichos agro-ecológicos: 1. O Altiplano (alto planalto), localizado acima de 4.000 metros do nível das águas do mar; 2. A Pré-Cordilheira (vertentes andinas), sita entre 3.000 e 4.000 m; 3. Os Vales do curso superior dos escassos rios, entre 2.000 e 3000 metros; 4. Os Oásis das pampas do sopé dos Andes, estendendo-se em média entre
1.000 a 2.000 metros de altitude; 5. Os vales do curso inferior, Vales Perirubanos, já que as cidades chilenas são no geral costeiras. No Extremo Norte do Chile objectivámos especificamente determinar em que medida a acção antrópica, desenvolvida ao longo de milénios, conduziu à espoliação de recursos naturais observada e registada durante as missões de 2003 e 2004. Civilização perdida no tempo e no espaço de confronto de poderosos interesses, por via da riqueza cuprífera chilena, a subsistência da rede de povoados da etnia Aymara depende dos mesmos recursos hídricos de que carece a mui rentável mas altamente depredadora indústria extractiva. - EVENTOS HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS COM CARÁCTER DANOSO EM PORTUGAL CONTINENTAL: ANÁLISE PRELIMINAR AO PERÍODO 1970-2006
Ivânia Quaresma, José Luís Zêzere
Palavras chave: Desastres Naturais, Cheias, Movimentos de Massa, Base de DadosPortugal Continental está sujeito à ocorrência de fenómenos naturais que têm o potencial para gerar danos e que redundam, por vezes, em situações de catástrofe ou desastre. Dos diversos tipos de desastres naturais com incidência em Portugal, os de natureza hidro-geomorfológica (e.g., cheias e movimentos de massa) são os que ocorrem com maior frequência, com prevalência para os de carácter hidrológico.
De acordo com a EM-DAT, base de dados sobre desastres naturais de referência internacional, ocorreram muito poucos desastres naturais do tipo hidro-geomorfológico no território Português, no decurso do século XX. No entanto, esta referência tem que ser entendida à luz dos critérios, razoavelmente restritivos, utilizados pelos gestores desta base de dados para a caracterização de uma catástrofe natural (e.g., ocorrência de 10 ou mais mortes; existência de 100 ou mais pessoas afectadas). Com efeito, o século XX e os primeiros anos do século XXI foram marcados em Portugal Continental pela ocorrência de numerosos eventos de natureza hidro-geomorfológica, que provocaram danos corporais e materiais significativos, traduzindo-se em mortos, feridos, desaparecidos, evacuados e desalojados, e originando milhões de euros de prejuízos. Ainda que as consequências destes eventos sejam relevantes, elas tendem a desvanecer-se na memória colectiva, o que contribui para a subvalorização dos fenómenos perigosos em causa. Deriva daqui um sério problema que torna necessárias políticas de prevenção e mitigação eficientes. Neste trabalho apresentam-se os primeiros resultados de uma investigação sobre desastres naturais em Portugal Continental, baseada em relatos na imprensa escrita diária, num intervalo de 106 anos. Pretende-se construir um inventário que sustente o estudo dos padrões temporal e espacial dos eventos com carácter danoso, tornando-se num instrumento basilar para o ordenamento do território e para o planeamento de emergência em Portugal Continental. - GEOPOLÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS E DOS CONFLITOS FACTORES DE INSTABILIDADE E DINÂMICA DE CONFLITO
Américo Seabra Zuzarte Reis
Palavras chave: Recursos Naturais, Environmental Security, Resource WarsA geopolítica dos recursos naturais e dos conflitos tem vindo a ganhar destaque em vários domínios da nossa sociedade. As alterações ambientais e a escassez de recursos naturais comportam ameaças e riscos para a segurança global e humana. Esta constatação, ainda que alvo de algum criticismo, deu origem a uma vasta profusão de literatura sob a égide das
expressões Environmental Security e Resource Wars.
A literatura sobre Environmental Security incide sobre as relações causais entre ambiente e segurança. As alterações ambientais têm um carácter cumulativo e podem contribuir directamente para a insegurança e conflito, a diferentes escalas. Raramente as alterações ambientais são causa única de um conflito. No entanto, as suas consequências podem interagir e potenciar os efeitos negativos de certos factores de natureza demográfica, social, política ou
económica, para além de potenciarem outros fenómenos sociais extremos (e.g. pobreza, migração, doenças infecciosas, tráficos).
Por seu lado, os trabalhos consagradas às Resource Wars incidem sobre a geopolítica dos recursos e dos conflitos. Estes trabalhos analisam os conflitos de forma a determinar a medida em que a escassez de recursos contribui para a instabilidade e conflito. As abordagens de cariz geopolítico exploram a fronteira crítica entre a estabilidade e o conflito, perspectivando a difusão de conflitos sobre recursos essenciais, desde o petróleo até à água potável.
No novo mapa político dos conflitos, sobressaem países onde a escassez de recursos induz lutas pela sobrevivência diária e, paradoxalmente, países onde a abundância de recursos fomenta e alimenta diversos tipos de insurreições e conflitos armados.
Com esta comunicação pretende-se evidenciar e chamar ao debate os aspectos mais relevantes sobre segurança ambiental e guerras sobre recursos, uma vez que estes conceitos têm enormes implicações na segurança e prosperidade da nossa sociedade. - GEOPOLÍTICA PORTUGUESA, CONTROLE E FORMAÇÃO TERRITORIAL NA AMAZÔNIA DOS SÉCULOS XVII-XVIII: OS FORTES, AS MISSÕES E A POLÍTICA POMBALINA
Maria Goretti da Costa Tavares
Palavras chave: Geopolítica, Território, AmazóniaO presente texto trata das estratégias geopolíticas utilizadas pelo estado português durante os séculos XVII e XVIII na Amazônia que possibilitou a atual configuração da Amazónia brasileira. O presente trabalho encontra-se dividido em 03 partes: na primeira, é apresenta a estratégia das fortalezas, que vai dar conformidades aos principais núcleos urbanos da região.
No período da União das Coroas Ibéricas (1580-1640), inicia-se a ocupação militar na embocadura do rio Amazonas, com a fundação de Belém, em 1616. Era época das invasões holandesas, francesas e inglesas no Nordeste, mais precisamente no Maranhão e Pernambuco, principal área de produção de açúcar. Além disso, havia a disputa pelas drogas do sertão, tais como a canela, o cravo, o anil, as raízes aromáticas, as sementes oleaginosas, e a salsaparrilha, que os estrangeiros tentavam apoderar-se; fazendo-se necessário ocupar e defender o território
próximo a essa área. É o momento do surgimento de São Luis do Maranhão (1615), Belém do Pará (1616), Macapá (1636) e Manaus (1665), que constutuíam-se em núcleos de apossamento do território.
Na segunda parte a atuação dos religiosos, que permite a interiorização ao longo dos afluentes e sub-afluentes do rio Amazonas. A área das missões ou "território das missões" foi dividida entre carmelitas, franciscanos, mercedários e jesuítas, tendo sido a distribuição territorial das missões entre essas ordens regulamentada pela Coroa a fim de evitar conflitos de jurisdição.
E por fim, a terceira parte trata da estratégia do Marques de Pombal, que muda o significado e o conteúdo deste território, dando marcas definitivas do contorno do território português, inclusive com a implantação de vilas com a denominação de vilas e cidades portuguesas.
Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, foi o encarregado pelo governo colonial por reformas como: a execução do tratado de limites (1750); o estabelecimento da Companhia Geral do Comércio do Grão Pará (1755); a declaração da liberdade dos indígenas; e a expulsão dos jesuítas e de outras ordens religiosas. Da política pombalina fazia parte o estabelecimento de novas colônias militares, mas agora com o objetivo de povoar, ocupar, dar novo conteúdo ao território, a exemplo da Colônia Militar de São João do Araguaia, na confluência do Araguaia-Tocantins paraense. - GUIMARÃES PARA OS PEQUENINOS
PLANEAMENTO URBANO CENTRADO NA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS
Paula Cristina Remoaldo, Liliana Teixeira Gomes
Palavras chave: Planeamento Urbano, Cidade mais Segura, Segurança Infantil, Papel das AutarquiasNo âmbito da União Europeia os acidentes de viação são encarados como um importante problema de saúde pública, havendo anualmente cerca de 150.000 deficientes e 40.000 mortos decorrentes deste tipo de acidentes.
Apesar do cenário estar a melhorar em Portugal havendo tendência para deixar de ocupar os primeiros lugares no que diz respeito a causas de morte por acidentes de transporte, acreditamos que será difícil alcançar a meta proposta até finais da presente década no âmbito do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária (P.N.P.R.) que se encontra em vigor.
Quando falamos de Prevenção Rodoviária e nos cingimos às crianças, e sabendo que Portugal continua a ser um dos países cimeiros no que concerne ao número de óbitos de crianças por acidente de viação e por 100.000 habitantes, não podemos esquecer também o planeamento urbano que é pouco pensado tendo em conta as suas necessidades.
No presente paper revelamos alguns resultados do Projecto intitulado Guimarães para os pequeninos – a influência do desenho urbano na segurança rodoviária das crianças, financiado entre Janeiro e Outubro de 2007 pelo Ministério da Administração Interna (M.A.I.).
Este teve como principais objectivos avaliar a influência do desenho urbano de
Guimarães na segurança rodoviária das crianças, centrando-se no estudo do meio envolvente de nove instituições, tendo em conta o respeito ou não das normas vigentes em termos de segurança rodoviária das crianças e aferirindo soluções para os problemas diagnosticados pelos técnicos e pais das crianças. - GUIMARÃES: CARTOGRAFIA URBANA HISTÓRICA E MORFOLOGIA URBANA
Mário Gonçalves Fernandes
Palavras chave: cartografia urbana, morfologia urbana, reabilitação urbanaNo âmbito das fontes para o estudo das aglomerações urbanas visando informar a intervenção em espaços urbanos consolidados, os documentos cartográficos apresentam-se como elementos incontornáveis, tornando-se o seu conhecimento um aspecto essencial para a compreensão da morfogénese urbana. Neste sentido, neste contributo visam-se explicitamente dois objectivos: por um lado, divulgar uma planta de Guimarães até agora desconhecida, por outro, relevar o rico manancial de informação que a planta fornece, certamente pertinente para várias áreas do conhecimento, como a geografia urbana histórica, o urbanismo, a arqueologia ou a história de arte.
A planta, existente na Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, para onde viajou no espólio da corte portuguesa na primeira década de Oitocentos, faz parte dos Mappas do Reino de Portugal e suas conquistas collegidos por Diogo Barbosa Machado, que faleceu em 1773, e foi divulgada por Maria Dulce de Faria, bibliotecária daquela instituição, na 21st International Conference on the History of Cartography (Budapeste, Julho de 2005).
Representando a povoação na perspectiva ortogonal, com grande pormenor (escala de 1:1100, aproximadamente), apresenta elementos que permitem afirmar tratar-se de um exemplar Quinhentista, constituindo, também por isto, um documento fulcral para a história da cartografia urbana portuguesa. O valor intrínseco da planta “De Guimarães” exige a sua divulgação, quer como elemento cultural a ser preservado e potenciado, quer como fonte de investigação e de informação para a intervenção e reabilitação urbana.
Foi isso que se fez no IV Congresso Histórico de Guimarães, em 2006, aí se visando uma divulgação in situ. É isso que se reforça neste VI Congresso da Geografia Portuguesa, aqui numa partilha entre pares, sublinhando-se que o texto que a seguir se apresenta decalca aquele que foi apresentado no congresso de Guimarães. - INTEGRAÇÃO DE REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS E SIG PARA A MODELAÇÃO DE HABITATS POTENCIAIS NO PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS
César Capinha, Raquel Melo, António Flor
Palavras chave: Modelação, habitats, redes neuronais artificiais, flora, factores ecológicosA Geografia e mais propriamente a Biogeografia têm desempenhado um papel de extrema importância na preservação da biodiversidade. Uma das principais ferramentas na definição de estratégias com esse fim tem sido a modelação de habitats potenciais.
Este trabalho apresenta uma metodologia de obtenção de habitats potenciais através da integração de modelos espaciais representativos de vários factores biofísicos com registos de ocorrência de três espécies de flora (variáveis dependentes): Thymus villosus L. sub. villosus; Teucrium chamaedrys L. e Silene longicilia (Brot.) Otth. A área de estudo corresponde ao
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), tendo sido utilizada uma resolução mínima considerada de elevado detalhe (900 m2).
Para a caracterização biofísica da área foram modelados diversos factores ecológicos (variáveis independentes) como a radiação solar potencial, intensidade de vento, profundidade do horizonte A do solo, geologia do substrato, drenagem acumulada, e uso do solo. Como modelo estatístico de integração foram utilizadas regressões não paramétricas obtidas a partir de redes neuronais artificiais. Este é um método de utilização recente na área cujos valores de desempenho se têm revelado superiores à média em vários trabalhos.
A avaliação dos modelos foi realizada efectuando uma validação cruzada K-fold, em que as amostras iniciais foram particionadas em K amostras sendo apenas uma delas utilizada para validação e o processo repetido K vezes, permitiu atingir valores de desempenho entre os 74% e os 85%. - LEI DAS AUGI NO QUADRO DAS ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO DE GESTÃO TERRITORIAL
NOVAS SOLUÇÕES PARA VELHOS PROBLEMAS – O PPR
Júlia Susana C. Reis, Maria Teresa Caiado F. Correia
Palavras chave: Reconversão, Legalização, Desafios, Normas, Sinergias, UrbanidadeO fenómeno clandestino, consubstanciado na transformação informal e no fraccionamento ilegal do território, teve e tem, ainda hoje, em Portugal, e sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, um significativo papel na criação do espaço urbano. Milhares de hectares foram parcelados e destinados à construção no mais completo desrespeito para com as regras técnico-jurídicas aplicáveis, à vista de todos, perante a lentidão, e na maior parte das vezes ineficácia, do quadro legal vigente e das instituições competentes. A tomada de consciência do fenómeno clandestino não é nova, vários diplomas legais procuraram, ainda que de forma incipiente, obter resultados práticos, no entanto, apesar do esforço, não foi possível disciplinar os negócios jurídicos e a transformação fundiária acentuou-se.
Com a entrada em vigor da Lei n.º 91/95 de 02 de Set. (Lei das AUGI) surge, passados cerca de 20 anos sobre o fenómeno, um regime jurídico excepcional para a reconversão urbanística do solo e a legalização de construções, concedendo o legislador normas excepcionais por motivos de utilidade, interrompendo regras gerais. Embora as razões que determinam a criação de regras excepcionais sejam passageiras, até porque o direito é transitório, parecem existir excepções que têm tendência a permanecer, sendo o regime jurídico em apreço, em nosso entendimento, uma dessas situações.
A reconversão de uma AUGI não constitui uma tarefa simples em face, sobretudo, do elevado grau de comprometimento do território. Embora este argumento seja muitas vezes encarado como uma espécie de inevitabilidade para a dificuldade em implementar soluções, o mesmo não deixa de ser uma contingência. A reconversão não pode alhear-se das políticas gerais de planeamento e ordenamento do território, mas deve ser equacionada à sua luz de uma forma mais célere e oportuna, separando o necessário do acessório A Reconversão carece de ultrapassar a fasquia das intenções para o campo das soluções, superar o estigma espacial da degradação e provar que pode alcançar a sua urbanidade.
Nesta apresentação propomos abordar, em face do contexto acima descrito e tendo por base uma experiência prática, no campo profissional, no acompanhamento de operações de reconversão urbanística no Município do Seixal, proceder a uma pequena reflexão sobre as eventuais implicações para a reconversão urbanística, das alterações previstas a curto prazo para os instrumentos de gestão territorial, e do modo como estas poderão contribuir para a procura de novas práticas na resolução destes velhos problemas. - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES DEVIDO A VENTOS FORTES
O CASO DE LISBOA
Sandra Oliveira, António Lopes
Palavras chave: Árvores em meio urbano, queda de árvores, avaliação de risco, vento forteAs árvores em meio urbano oferecem inúmeros benefícios, quer ao nível ambiental, quer ao nível económico e social. No entanto, podem também ser a causa de danos materiais e humanos, devido à queda de ramos, pernadas ou da própria árvore, em situações de vento forte. Este tipo de situações é relativamente frequente na cidade de Lisboa, dependendo da estação do ano e das condições meteorológicas. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa é responsável pelo registo das ocorrências, pela limpeza da área onde ocorre a queda e pela notificação da entidade responsável pela manutenção das árvores, normalmente a Câmara Municipal de Lisboa.
Neste trabalho, é apresentada uma metodologia com vista à análise dos danos causados às árvores pelo vento forte (> 7 m/s) e as potenciais causas da ocorrência de quedas de árvores, pernadas e ramos na cidade de Lisboa. Os dados das ocorrências foram obtidos a partir dos arquivos do RSBL e analisados em conjunto com dados meteorológicos (direcção e velocidade do vento) e informação sobre as espécies, condições fitossanitárias, características do local de ocorrência e outros parâmetros da morfologia urbana, como por exemplo a orientação das ruas e a relação H/W.
Foi analisado um período de 17 anos, entre 1990 e 2006. Concluiu-se que a maior percentagem de quedas se verificou nos últimos 7 anos e que existem variações sazonais em relação ao número de ocorrências e à direcção do vento dominante registadas.
A metodologia apresentada pretende contribuir para a elaboração de cartografia de risco de queda de árvores devido a ventos fortes em meio urbano. - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE SUSTENTÁVEIS EM CENTROS HISTÓRICOS
Cristina Morais, Nuno Marques da Silva, Pedro Serrano Gomes
Palavras chave: Mobilidade, Acessibilidade, Sustentabilidade, Centros HistóricosA alteração dos padrões de mobilidade, concomitante a uma reorganização da localização das actividades no território, tem criado conflitos com as condições de habitabilidade dos espaços urbanos. Nos centros históricos, dada a sua especificidade e inadequação para acolher grandes fluxos de trânsito motorizado, as consequências destes novos padrões de mobilidade são particularmente nefastas. O advento do conceito de sustentabilidade cria a necessidade de o planeamento da mobilidade e acessibilidade com ele se articular, procurando conciliar as legítimas pretensões dos variados agentes do território, em termos de mobilidade, com aqueles que são os três grandes pilares da sustentabilidade: crescimento económico, coesão social e qualidade ambiental.
A presente comunicação parte, então, das especificidades das questões de mobilidade e acessibilidade nos centros históricos, procurando respostas que contribuam para a sua sustentabilidade. A diversidade de causas para os problemas neste domínio nos centros históricos é apresentada, salientando a manutenção da centralidade destes lugares pelo albergue de actividades terciárias e de património histórico-cultural, no contexto de relocalização de funções urbanas, particularmente a residencial. A compatibilização da acessibilidade dos centros históricos e da mobilidade dos seus utentes com o desígnio da sustentabilidade tem sido promovida através de estratégias visando sobretudo a diminuição do uso do transporte privado, melhorias nos serviços de transporte público e promoção da mobilidade pedonal. Estas são enumeradas na comunicação, que se debruça, posteriormente, sobre a apresentação de estudos de caso (nacionais e internacionais) de intervenções consideradas exemplificativas, assinalando-se os benefícios e limitações de cada uma delas. - MOBILIDADE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO – O PAPEL DO DESENHO URBANO
Hélder Ferreira
Palavras chave: Mobilidade, Desenho Urbano, Espaço PúblicoO desenho urbano apresenta-se hoje, como ferramenta fundamental para a melhoria da mobilidade e da segurança rodoviária nos núcleos urbanos, especialmente para o peão.
A qualidade dos “espaços públicos de encontro” permite, uma verdadeira interacção entre gerações, classes sociais e comunidades. De outro modo o cidadão tende para o isolamento, deixando de sentir que faz parte da cidade e de participar em “causas comuns”.
Deste modo, alterações da morfologia e do desenho urbano, além de contribuírem para a melhoria do espaço público, podem também ajudar à melhoria da mobilidade urbana, através de diversas acções que contribuam para a redução da velocidade dos veículos.
Numa sociedade cada vez mais urbana e globalizada, em que as cidades competem entre si, a qualidade e a funcionalidade do espaço público pode ser um factor de diferenciação.
Através das políticas de mobilidade, opções ao nível do mobiliário urbano e desenho das ruas, é possível contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos núcleos urbanos.
Será apresentada uma breve reflexão à implementação das designadas “Zonas Mistas” (áreas residenciais em que a função recreio ou convívio dos peões tem prioridade), “Zonas de Encontro” (semelhante às Zonas Mistas, mas em áreas urbanas com actividades de comércio ou serviços), “Zonas 30” (constituem áreas de circulação homogénea, onde a velocidade é limitada a 30 km/h e são objecto de ordenamento específico).
A coexistência pacífica e segura de todos os utilizadores da rua é um exercício de desenho urbano complexo, com inúmeras vantagens sociais, económicas e ambientais resultantes da redução da velocidade de circulação dos veículos motorizados em meio urbano.;
Sendo necessário distinguir as intervenções em núcleos históricos das novas áreas urbanas. - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: O CASO DOS MINI-BUS ELÉCTRICOS
Joana Costa, Joana Miranda
Palavras chave: Mobilidade sustentável, Mini-Bus, centro histórico, energias alternativas, competitividade dos territóriosActualmente os grandes centros urbanos enfrentam uma crise de mobilidade. O modelo de circulação centrado no automóvel, a carência dos sistemas de transportes colectivos e a falta de infra-estruturas necessárias para dar resposta aos problemas existentes, nomeadamente em termos de congestionamento, são os principais responsáveis deste fenómeno. Assim, a mobilidade urbana torna-se num sistema bastante complexo e que funciona em condições claramente insatisfatórias (desarticulação entre a oferta de transporte e o uso do solo), sendo pois necessário a implementação de soluções mais sustentáveis e que se enquadrem numa visão articulada do sistema: espaços, canais, actividades e fluxos. Neste sentido, como tentativa de resolver esses principais problemas, temos assistido (desde 2002) em Portugal, à realização de testes e demonstrações de Mini-Bus movidos a energias alternativas, como o hidrogénio e a electricidade, nos quais a Associação Portuguesa de Veículos Eléctricos se tem revelado impulsionadora. Este tipo de autocarro tem-se revelado bastante eficiente nos centros históricos das cidades, permitindo uma maior abertura da malha urbana, com um baixo custo de exploração e elevada fiabilidade.
Com base nestas orientações, a comunicação incide sobre as principais características do Mini-Bus eléctrico (incluindo percursos), mais valias, definição de parâmetros para garantir o seu sucesso e exemplos de cidades que aderiram a este modo de transporte no âmbito da mobilidade sustentável, sendo ainda importante referir o seu contributo para o aumento da competitividade dos territórios. - MONITORIZAÇÃO DAS DINÂMICAS DO USO DO SOLO NA CIDADE AFRICANA
Cristina Delgado Henriques
Palavras chave: Uso do solo, SIG, Detecção Remota, modelação geográfica, cidade africanaA acelerada transformação do território nas cidades africanas verificada nas últimas décadas representa um desafio ao ordenamento do território, quer no que respeita à componente de gestão, quer no âmbito do planeamento físico sustentável destas cidades.
A monitorização e a avaliação qualitativa e quantitativa das transformações espácio-temporais do uso do solo constitui uma etapa fundamental na compreensão das dinâmicas dos processos que levam à alteração das paisagens urbanas e consequentemente no enquadramento geográfico das acções de planeamento que se pretendam desencadear.
A Detecção Remota, os sistemas de informação geográfica (SIG) e a modelação por autómatos celulares apresentam-se, actualmente, como ferramentas indispensáveis na sistematização e análise dos processos de transformação de uso do solo.
É, portanto, através destas tecnologias que aqui se apresenta uma análise das transformações do uso do solo ocorridas num caso de estudo, entre 1964 e 2001 e uma modelação das tendências de transformação entre 2001 e 2010. - NOVAS OPORTUNIDADES PARA O ESPAÇO RURAL
ANÁLISE EXPLORATÓRIA NO CENTRO DE PORTUGAL
Norberto Santos, Lúcio CunhaComo afirmava Dollfus a acção humana tende a transformar o meio natural em meio geográfico. Neste âmbito, os espaços de grandes densidades humanas sempre apresentaram modos de intervenção significativamente mais marcados pela mão do homem. O espaço que aqui pretendemos enfatizar é precisamente aquele que tem, depois de Vidal de La Blache, sentido dificuldade em se afirmar enquanto espaço de acção, devido às suas características de repulsão, de periferia, de actividades económicas com efeitos multiplicadores reduzidos, de dificuldade de acesso a bens e equipamentos, de falta de cumprimento da proposta central da democracia e da cidadania de “a deveres iguais deverem corresponder iguais direitos”. Os espaços da extensividade da acção, dos tempos longos, do ciclo cósmico, das baixas densidades oferecem-nos, hoje, novos modos de fazer e velhos modos com novas roupagens, que encontram na Geografia eco redobrado através da sua possibilidade de territorializar as temáticas. Assim, o espaço, as pessoas e o ordenamento surgem integrados no território e assumem-se como modos de desenvolvimento local que importa explicitar.
Com a presente comunicação pretende-se uma abordagem da Região Centro Interior do País que procura o encontro e o equilíbrio entre a tradição, a modernidade e a inovação, através da valorização de recursos endógenos diversos com particular destaque para a importância que assumem os recursos hídricos, termas e praias fluviais, os lugares de monumentalidade geomorfológica e paisagística ou, ainda, as áreas de interesse ambiental, em actividades desportivas e de lazer capazes de refuncionalizar actividades económicas e lugares, promovendo o desenvolvimento local. - O BAIRRO DA COVA DA MOURA: ESTRUTURA DAS (DES)CONTINUIDADES SOCIO-URBANÍSTICAS
Carlos Jorge de Almeida Gonçalves
Palavras chave: Barreiras sócio-urbanísticas, integração/fragmentação, continuidade/descontinuidade/enclave/envolventeNeste trabalho encaramos o quadro sócio-urbanistico que o bairro da Cova da Moura apresenta e procuraremos as razões de origem interna e aquelas que resultam de factores externos, isto porque, tal como há causas económicas e causas sociais para a exclusão social e para a fragmentação urbana, há também razões exclusivamente urbanísticas, as quais decorrem essencialmente das políticas e das formas de produção e organização do espaço.
O território em análise destaca-se pela profundidade das problemáticas socio-urbanísticas em presença. Com este trabalho, procuraremos acrescentar elementos para consolidar conhecimentos que permitam uma análise mais fundamentada das soluções a adoptar tendo como enfoque primeiro a integração sócio-urbanística do bairro na estrutura urbana envolvente, descortinando os pontos onde se podem estabelecer linhas de ligação que, de algum modo, amarrem o bairro à sua envolvente. - O CONTRIBUTO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL
Paula Cristina Remoaldo
Palavras chave: Desenvolvimento Sustentável, Empowerment, Oito Objectivos do Milénio, ComportamentosO filme/documentário intitulado An Inconvenient Truth. A Global Warning (Uma
Verdade Inconveniente: Alerta Global - título comercializado em Portugal) de Al Gore, largamente mediatizado em finais de 2006 e durante os primeiros meses de 2007, veio contribuir para a reflexão de milhões de habitantes do planeta Terra sobre a questão da sua (in)sustentabilidade.
Dois meses antes da estreia do filme/documentário lançámos um desafio aos estudantes do 1º ano da Licenciatura em Geografia da Universidade do Minho na unidade curricular de Geografia Humana que se prendeu com a realização de um trabalho intitulado O meu contributo para tornar o mundo mais sustentável. Foi desenvolvido com o apoio da Profª. Doutora Natascha Van Hattum no âmbito do Projecto “Novos Métodos de Avaliação”.
Este projecto foi coordenado pela Presidência do Conselho de Cursos de Engenharia e apoiado pela Reitoria da Universidade do Minho com o suporte financeiro da Comissão Europeia, e que se centra no per-assessment e no self-assessment. Na presente comunicação desvendamos algumas das análises introspectivas realizadas pelos estudantes relativamente aos comportamentos que encetam, quer positivos quer negativos, e a proposta de mudança avançada por cada um a curto prazo. - O DIREITO À HABITAÇÃO NOS PAÍSES DE EXPRESSÃO OFICIAL PORTUGUESA
Maria Júlia Ferreira
Palavras chave: Países de Expressão Oficial Portuguesa, PEOP’s, Desenvolvimento, Direito à HabitaçãoOs países lusófonos são um resultado da diáspora portuguesa, iniciada com a conquista de Ceuta e continuada ao abrigo da expansão do império, e do processo histórico que conduziu à formação desses Estados independentes que falam o português. Na emigração, do destino América que marcou o século XIX e parte do XX, seguiu-se África e, nos pós II Grande Guerra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça e Andorra. Após a entrada de Portugal na actual União Europeia, reforçaram-se as rotas do Reino Unido, Espanha e Holanda e surgiram outras em resultado da internacionalização das empresas portuguesas: Europa de leste, norte de África, Malásia, Benin, Peru, Chile, … Hoje, os Países Africanos de Língua Portuguesa voltam a constituir-se como destino de segmentos da população portuguesa. Como resultado de toda essa diáspora, mais de cinco milhões de pessoas falam o português, vivendo em cerca de 150 países e, muitas vezes, constituem comunidades com alguma expressão e coesão.
A criação, em 1996, da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, pretendeu constituir um espaço político e cultural em que as questões ligadas com as migrações entre esses países tenderiam a destacar a identidade lusófona assente em direitos de cidadania concedidos aos nacionais dos países que integra. Da independência do Brasil à recente formação de Timor-Leste decorreu muito tempo o que, associado aos diferentes contextos em que se inserem, dá especificidades a cada um desses países mas sem apagar totalmente a matriz comum. Há semelhanças e diferenças e muitos dos problemas que enfrentam podem ter uma reflexão conjunta; destes escolhemos a problemática do Direito a uma Habitação adequada. O objectivo geral visa o entendimento dos factores que os unem como comunidade mas mais especificamente as necessidades e os caminhos escolhidos para implementar o Direito à Habitação, de forma a melhorar a qualidade de vida das populações que se reflectira, sem dúvida, nos valores do índice de desenvolvimento humano. - O METRO E A CIDADE
DAS REPRESENTAÇÕES DA CAUSALIDADE À INTEGRAÇÃO TRANSPORTE/ORDENAMENTO EM PARIS
Miguel Padeiro
Palavras chave: metro, causalidade, avaliação, efeitos, infra-estruturas, uso do soloA rede metropolitana parisiense conhece desde o início da década de 70 uma expansão espacial contínua que levou à criação de 28 estações de metro nos subúrbios da cidade, aumentando para 54 o seu número total. Tal desenvolvimento questiona os efeitos produzidos num espaço heterogéneo, simultaneamente figura da antiga “cintura vermelha”, da actual extensão da centralidade parisiense (Burgel, 1999, 2006) e da reactivação dos arredores mais próximos de Paris como alvo da política regional.
A partir da exploração estatística e geográfica da base de dados M.O.S. (Mode d’occupation du sol) e da análise aos projectos de prolongamento das linhas de metro, pretende-se avaliar os efeitos das infra-estruturas no espaço urbano da proche banlieue de Paris. Pouco perceptíveis, as alterações esboçam modos de causalidade diferentes das relações infra-estrutura/território habitualmente apontadas nos discursos e na prática dos decisores em matéria de transporte urbano. À retórica do “efeito estruturante” (Offner, 1993) sobre o urbanismo não corresponde o peso, na decisão, dos critérios da rentabilidade sócio-económica, tidos como racionais e objectivos, e que finalmente constituem um factor de minimização do risco financeiro. Os balanços ex-post, realizados a curto e médio prazo, não facilitam a evolução da prática e dos discursos político e científico.
Arriscar e desenhar a cidade com o auxílio do transporte obriga enfim a colocar a questão das contradições que põem em causa a integração das políticas de transporte e de ordenamento. Nas primeiras domina a lógica de rentabilidade e polarização dos fluxos, as segundas respondem a objectivos de distribuição igualitária que tendem por isso mesmo em dispersar a procura (Bonnafous, 1994). Da causalidade figurada às práticas reais, que ligações ? - O PAPEL DOS CENTROS HISTÓRICOS NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DAS ÁREAS METROPOLITANAS
Filipa Ramalhete
Palavras chave: ordenamento do território, centros históricos, património, áreas metropolitanasO património é, sem dúvida, um dos aspectos do ordenamento do território que mais reflecte no espaço a história e a cultura das comunidades e o seu estudo constitui um dos passos essenciais para a elaboração de políticas e práticas de desenvolvimento regional.
A noção de centro histórico advém do alargamento territorial do conceito de património. Implica que a noção de valor patrimonial se estenda para além do monumento isolado, abrangendo também a sua envolvente. Compreende, também, a atribuição de um valor patrimonial a elementos de cariz vernacular, em especial a espaços arquitectónicos com funções residenciais, de comércio e de serviços, trazendo para uma nova esfera o papel dos indivíduos anónimos e do seu saber na construção do território.
O objectivo desta comunicação é abordar a questão do ordenamento dos centros históricos em Portugal, abordando os seus principais problemas, principais soluções e modelos de gestão existentes, tendo como base a análise de centros históricos localizados numa área de expansão metropolitana. Serão apresentadas algumas reflexões sobre o papel dos centros históricos em territórios inseridos em áreas metropolitanas, assim como algumas propostas de ordenamento, fundamentadas no estudo de caso da Península de Setúbal. - O PROJECTO DEMOCARTO: MODELAÇÃO EM SIG DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA POPULAÇÃO DE CASCAIS E OEIRAS COM ALTA RESOLUÇÃO
Sérgio Freire
Palavras chave: distribuição da população, densidade populacional, cartografia dasimétrica, população em risco, Cascais, OeirasDesastres naturais ou com causa humana (terramotos, incêndios florestais ou urbanos, epidemias, acidentes tecnológicos, actos de terrorismo, etc.) ocorrem geralmente sem aviso prévio e podem vitimar grande número de pessoas. Os dados dos recenseamentos populacionais apenas registam o local de residência e pernoita habitual da população, embora a distribuição espacial desta varie significativamente da noite para o dia. Assim, quando um desastre ocorre, saber-se quantas pessoas poderão estar na zona afectada nesse momento é informação fundamental para planear adequadamente respostas de emergência e evacuação, podendo estes dados ser igualmente úteis numa variedade de estudos envolvendo população, nomeadamente em análise de transportes, ambiente e planeamento, saúde e GeoMarketing. A espacialização destes dados num formato SIG raster aumenta significativamente a sua utilidade e facilita a sua integração com outros dados espaciais para análise ou modelação.
A validade do conceito de população ambiente para as utilizações referidas foi já demonstrada pelo desenvolvimento recente duma base de dados populacionais global (o LandScan), sucessivamente melhorada. No entanto, a resolução espacial desses dados (30 segundos de arco, quase 1 km), embora aceitável para uso a escalas regionais e nacionais, revela-se insuficiente para a maioria dos usos práticos em Portugal, em particular em meio urbano. Acrescentando à componente espacial a dimensão temporal, bases de dados com elevada resolução representativas das distribuições diurnas e nocturnas da população estão a ser desenvolvidas nos EUA com base em dois tipos de metodologias.
O presente estudo aborda o processo e implicações do desenvolvimento de bases de dados semelhantes para os concelhos de Cascais e Oeiras. Neste exercício de modelação espacial, são utilizados dois tipos gerais de dados: a) informação censitária e estatística e b) dados fisiográficos. A informação censitária mais recente (2001) fornece os quantitativos populacionais a serem espacializados, enquanto o segundo tipo de dados permite definir as unidades espaciais usadas para desagregar os valores dos Censos. Desta forma é possível considerar a componente temporal da população e estimar as suas distribuições nocturnas e diurnas. Para máximo rigor e elevada resolução espacial, a distribuição populacional diurna incorpora a componente trabalhadora através da informação sobre locais de trabalho e serviços públicos e privados (como escolas e hospitais) e respectiva população deslocada.
O principal valor destes resultados reside na sua elevada resolução espacial (25 m) e no facto de aproximarem com maior rigor e realismo a distribuição populacional no período diurno, possibilitando assim análises mais rigorosas nesse período. Dada a disponibilidade e características dos dados geográficos em Portugal, e apesar de alguns problemas e limitações identificados nos dados de input, com alguns cuidados será possível aplicar esta metodologia a qualquer concelho das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto. - O TELETRABALHO EM PORTUGAL E A ESTRUTURAÇÃO DE FORMAS COMPLEMENTARES DE ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL: ESPAÇO DE FLUXOS VS. ESPAÇO DE LUGARES
Flávio Nunes
Palavras chave: espaço de fluxos, espaço de lugares, TIC’s, teletrabalhoNa sociedade da informação o funcionamento em rede, que tem como principal fundamento o que se designa por espaço de fluxos, é a lógica inerente à nova forma de organização social e territorial. Neste novo quadro contextual há, em termos de poder e controlo, uma preponderância crescente do espaço de fluxos sobre o espaço de lugares, sobretudo devido à possibilidade das infra-estruturas electrónicas de comunicação permitirem uma coordenação em tempo real das principais actividades económicas, políticas ou culturais dispersas pelo planeta, contudo, e apesar disso, verifica-se que a importância do espaço de lugares tende a persistir. Com esta comunicação procura-se, através do estudo do processo de adesão ao teletrabalho em Portugal, compreender como se processa na prática a dialéctica entre estes dois tipos de espaços e o modo como na vivência quotidiana eles se articulam entre si, agindo simultaneamente na estruturação da sociedade e do território.
- OS DIREITOS HUMANOS NA SALA DE AULA
Carla Afonso Ribeiro, Cátia Freitas, Lúcia Bettencourt
Palavras chave: Direitos humanos, experiências educativas, competências, diferenciação, GeografiaA presente comunicação tem como tema estruturante os Direitos Humanos na Educação Geográfica. Desta forma, pretende valorizar-se os Direitos Humanos/sociais no ensino da disciplina de Geografia e promover esta pela atenção privilegiada que concede à concretização dos mesmos direitos, assim como desenvolver competências docentes de investigação em sala de aula.
Considerando os vários assuntos que a educação para a cidadania aborda, facilmente constatamos que a Geografia pode contribuir significativamente para a formação dos alunos neste domínio, já que “têm em comum o desenvolvimento de valores e atitudes, conceitos e capacidades” (MACHON e WALKINGTON, 2000).
Deste modo, procurámos uma “igualdade dos resultados da aprendizagem, em vez de uma igualdade das oportunidades” (SHOUMAKER, 1994), que neste caso se materializaria na aplicação das mesmas experiências educativas a todas as turmas, mesmo sabendo que determinadas actividades à priori não alcançariam o sucesso desejado, assim optou-se por idealizar e planificar actividades ao longo do ano lectivo atendendo àquilo que conhecíamos dos alunos. Por conseguinte, a grande aposta consistiu na diversificação (das situações de ensino-aprendizagem, de recursos, etc) e diferenciação das actividades/ experiências educativas, tendo em atenção as características, especificidades e interesses dos alunos, de forma a tornar a sua aprendizagem mais significativa, combatendo assim, o chamado “currículo pronto-a-vestir de tamanho único que herdámos do passado e que dificulta o desenvolvimento de políticas e práticas de diferenciação pedagógica” (FORMOSINHO, 1981 in FERNANDES, 2000). - OS SIG NA PREVENÇÃO DA SIDA EM PORTUGAL
Margarida Quintela Martins
Palavras chave: Tipo de Notificação, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Portador Assintomático (PA), Complexo Relacionado com a SIDA (CRS), Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Análise espacialNormalmente associa-se a infecção VIH/SIDA a indivíduos que pertencem a grupos de risco, nomeadamente, toxicodependentes, homossexuais e a indivíduos que praticam prostituição.
No entanto, ao longo dos anos tem-se verificado que esta é uma doença que afecta principalmente comportamentos de risco e não grupos de risco. Assim é muito importante a tomada de consciência para o facto desta doença poder afectar qualquer indivíduo de qualquer idade.
A Geografia e a representação cartográfica poderão dar um contributo substancial como suporte de investigação, uma vez que todos os fenómenos ocorrem num dado momento ou período, num determinado local. Assim, aliando os dados que se pretendem estudar a uma base geográfica é possível identificar padrões de concentração e / ou dispersão e analisá-los ao longo de diferentes períodos de tempo.
O objectivo é demonstrar que os SIG podem ter um papel importante na prevenção da SIDA em Portugal. Os dados cedidos, foram trabalhados neste ambiente, o que irá permitir a realização de uma série de análises, com representação espacial. - PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A CONSTRUÇÃO DA UHE TUCURUÍ: REORDENAMENTO DAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS RIBEIRINHAS
Maria das Graças da Silva
Palavras chave: Planejamento territorial, Grandes Projetos, Reordenação Socioespacial, Questão AmbientalO trabalho discute as principais transformações ecológicas e sociais ocorridas na área de construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará e suas repercussões nas práticas socioambientais de grupos sociais do Baixo Tocantins, área de jusante da barragem. Com base em estudo realizado nessa área, caracteriza-se o modo como as transformações têm repercutido no manejo dos recursos naturais, particularmente, nas atividades de pesca artesanal e no extrativismo vegetal, práticas que historicamente dão sustentação aos modos de vida ribeirinha por se configurarem como a base do sistema produtivo, e nas próprias relações sociais. Buscou-se estudar Como os grupos locais reordenam os espaços e territórios de onde retiravam cotidianamente sua subsistência, e politizam a degradação ambiental nas lutas que demandam reconhecimento de direitos ambientais de acesso e uso comum da base de recursos territorializados. O esforço analítico foi o de desvendar os efeitos da intervenção racional, não só nos ecossistemas, mas nos meios e modos de vida das comunidades, e seus rebatimentos nas dinâmicas locais. Os resultados dos estudos mostram que no contexto das lutas, a questão ambiental conformou um campo de forças específico da luta entre representantes do Setor Elétrico e esses grupos.
- POESIA E EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA, PERSPECTIVAS DE ABORDAGEM
Maria Helena Ramalho, Vítor Fontes
Palavras chave: Educação Geográfica, Poesia, Didáctica, CompetênciasContribuir para a formação de cidadãos geograficamente competentes e promover a cultura e a literacia geográfica são, hoje, grandes desafios dos professores de Geografia dos ensinos Básico e Secundário. A operacionalização dessas metas/desafios requer dos professores criatividade e exigência na construção de estratégias didácticas que contribuam para um efectivo desenvolvimento das competências geográficas.
É neste contexto que consideramos que a poesia, tantas vezes ignorada, temida ou entendida como património exclusivo da disciplina de Língua Portuguesa, pode ser um recurso e uma ferramenta didáctica extremamente útil, dado o seu enorme potencial educativo. As possibilidades de abordagem são múltiplas e entre elas destacamos: (a) os poemas enquanto documentos reveladores de uma perspectiva espacial/ territorial, potenciadores de análise geográfica (temática); (b) os poemas enquanto recursos didácticos com potencial ao nível do desenvolvimento procedimental e/ou atitudinal; (c) os poemas enquanto elementos estruturantes na construção de situações educativas agregadoras; (d) os poemas enquanto instrumentos para o desenvolvimento e aprofundamento de competências (geográficas e transversais) e de articulações disciplinares; (e) os poemas enquanto recursos/instrumentos potenciadores do alargamento da identidade cultural dos alunos.
Criar pontos de contacto entre a expressão poética e os saberes geográficos é o exercício que propomos após várias situações concretizadas de utilização didáctica da poesia, num apelo à intuição pedagógica e à criatividade de cada professor. - PÓLOS DE ECONOMIA DO PATRIMÓNIO: UMA ESTRATÉGIA DE VALORIZAÇÃO TERRITORIAL
Regina Salvador, José Lúcio, André Fernandes
Palavras chave: Património, construção civil, marketing territorial, clusters culturaisO objectivo principal da presente comunicação é avaliar o potencial de uma nova dinâmica na construção civil (que atravessa uma prolongada crise traduzida na diminuição das taxas de crescimento sectorial), assente no investimento em Pólos de Economia do Património. Esta estratégia tem conhecido um sucesso assinalável em vários Estados-Membros, permitindo a qualificação patrimonial através do recurso a saberes, métodos, instrumentos e técnicas tradicionais. A valorização dos recursos patrimoniais tem ainda efeitos de arrastamento em sectores como o turismo, produções tradicionais de qualidade elevada, artesanato, outros saberes tradicionais, empregos ligados à melhoria do ambiente e da qualidade de vida. Esta aposta permitirá rentabilizar investimentos significativos realizados em igrejas, casas senhoriais ou monumentos públicos. A comunicação apresentará propostas para a promoção e desenvolvimento da estratégia de valorização do património e aproveitamento da capacidade instalada ao nível da construção civil.
- POR UMA TEORIA DA DECISÃO!
PREMISSAS DE UM MODELO DE GOVERNAÇÃO DA CIDADE
Isabel Marcos
Palavras chave: Estratégias de decisão, Urbanismo, Semiótica & Comunicação, Marketing, Valores Simbólicos da Urbanidade, Estruturação do EspaçoO processo estratégico de decisão em urbanismo demonstrará que o urbanismo e a arquitectura não podem escapar à sua dimensão comunicacional. Para ilustrar esta afirmação, considerarei três intervenções urbanísticas em frentes de água que me parecem paradigmáticas: a de Bilbau (o projecto do Museu Guggenheim de Frank Gehry), a de Paris (os grandes projectos do presidente Mitterrand) e a de Lisboa (o projecto da exposição internacional – Expo 98). As três intervenções permitir-nos-ão mostrar que o sucesso destes projectos está ligado às significações que deles emergem. Na nossa sociedade onde a comunicação é quem dá enfase ao valor, essas significações devem ser meticulosamente estudadas. E é aqui que o analista em semiótica do espaço assume toda a sua pertinência no contexto do processo estratégico de decisão em urbanismo. O processo estratégico sob a perspectiva semiótica, permite-nos actuar na:
1 – Especificação : definir os valores que devem direccionar todo o projecto urbano e estabelecer as competências de cada um dos actantes da decisão;
2 – Pré-concepção : simular os efeitos de significação esperados (conceber alguns cenários urbanos esquemáticos);
3 – Concepção : recomendar e preconizar as soluções mais adaptadas;
4 – Gestão do projecto : acompanhar e gerir o conjunto das etapas do processo estratégico. - PORTUGAL E O MAR: OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA FUTURA POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEIA
João Figueira de Sousa, André Fernandes
Palavras chave: Políticas marítimas, espaço marítimo europeu, recursos oceânicosAssumindo a relevância estratégica da reafirmação de uma dimensão marítima europeia, alicerçada numa abordagem integrada dos oceanos e mares enquanto recurso aglutinador de um vasto leque de actividades, a União Europeia, apresentou em 2006, o Livro Verde “ Para uma futura política marítima da União: uma visão europeia para os oceanos e os mares”. A nível nacional, o documento “Estratégia Nacional para os Oceanos”, elaborado pela Comissão Estratégica dos Oceanos, relançou o debate acerca da oportunidade e valia da afirmação de uma reorientação estratégica nacional relativamente a um recurso multidimensional, capaz de sustentar a constituição de um “mega cluster oceânico”, propulsor do encetamento de um modelo de desenvolvimento sustentável e do reforço da identidade nacional, num contexto de reforço dos processos de globalização e integração europeia. Mais recentemente, a “Estratégia Nacional para o Mar”, reiterou a necessidade de uma orientação estratégica para o mar, que promova a consolidação deste recurso como vector de desenvolvimento de Portugal. No contexto deste novo enquadramento político, analisam-se as orientações nacionais, as oportunidades criadas por alguns documentos/instrumentos comunitários e a articulação das primeiras com as linhas de orientação lançadas pelo Livro Verde comunitário, apresentando-se ainda uma reflexão crítica sobre as potenciais implicações da estratégia europeia para os oceanos e mares para Portugal.
- PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO ESPACIAL À ESCALA EUROPEIA/COMUNITÁRIA
PROCESSOS, ACTORES E TENDÊNCIAS DE TRÊS DÉCADAS DE EVOLUÇÃO
Sérgio Caramelo
Palavras chave: Ordenamento espacial supranacional, Europa, Integração RegionalNos últimos anos as iniciativas relacionadas com as “estratégias de desenvolvimento espacial à escala supranacional” têm tido uma expressiva divulgação junto de uma parte da sociedade, todavia, este não é um tema novo. Uma análise mais aprofundada deste tipo de actividades na Europa revela-nos que estas levam já algumas décadas de evolução. O interesse crescente atribuído a esta matéria advém, entre outros, dos efeitos territoriais nefastos que têm acompanhado quer o processo de globalização, quer o incremento da integração na Europa comunitária. A experiência tem evidenciado que o aprofundamento do processo de globalização e, em particular, da sua dimensão económica, não é de modo algum inócuo em relação ao(s) território(s). Na verdade, este processo tem estado associado, por um lado, a fenómenos de incremento de assimetrias em relação aos quais os Estados e respectivos mecanismos tradicionais de intervenção parecem ter pouca capacidade de ingerência e, por outro, a fenómenos de reconfiguração espacial que em muitos casos transpõem largamente os quadros territoriais convencionais. O reconhecimento e assunção generalizada destes problemas e a averiguação, em muitos casos, da sua dimensão supranacional teve a sua génese na década de sessenta. Contudo, é só nos finais dos anos oitenta que entra na esfera comunitária ao mais alto nível. Até então, as questões relativas ao reequilíbrio territorial e ao ordenamento espacial à escala comunitária/europeia eram relegadas para um longínquo segundo plano, cabendo a outra organização internacional, o Conselho da Europa, a tarefa de desenvolver estes temas. O objectivo do artigo centra-se na análise critica da origem/evolução dos processos de desenvolvimento das Estratégias de Desenvolvimento Espacial à Escala Europeia levadas a cabo pelos actores mais proeminentes a este nível, isto é, a União Europeia e o Conselho da Europa.
- PROJECTO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: OS CASOS DOS MUNICÍPIOS DE MÉRTOLA, OURIQUE E TAVIRA
André Fernandes, João Figueira de Sousa
Palavras chave: Mobilidade sustentável, conceito multimodal de deslocação, sistemas de transportesO desafio da promoção de padrões de mobilidade sustentáveis, integrado num quadro referencial mais vasto subjacente à consolidação do paradigma do desenvolvimento sustentável, é indissociável de duas grandes problemáticas/componentes conexas, embora com especificidades que exigem a adopção de abordagens e soluções distintas: a mobilidade em áreas urbanas e em áreas rurais de baixa densidade. No primeiro caso, a prevalência de padrões de mobilidade baseados na utilização do transporte individual em detrimento do transporte público traduz-se na geração de externalidades negativas em vários domínios (ambiental, social, económico), com reflexos na qualidade de vida da população. Por sua vez, nas áreas rurais de baixa densidade, a inexistência de limiares de procura que assegurem a viabilidade da oferta tradicional de transporte traduz-se numa oferta desajustada relativamente às necessidades específicas das populações (geralmente idosa), colocando-se aqui o desafio imediato da equidade social. Neste contexto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promoveu o “Projecto Mobilidade Sustentável”, o qual tem por objectivo a elaboração de Planos de Mobilidade Sustentável para 40 municípios, os quais deverão adquirir uma perspectiva ambiental coerente de deslocação, tendo em vista a diminuição dos respectivos impactes no ambiente e o aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Partindo destas orientações, a comunicação debruça-se sobre as directrizes fundadas no diagnóstico prospectivo elaborado pela Equipa do Instituto de Dinâmica do Espaço para os municípios de Mértola, Ourique e Tavira, e sobre os conceitos de intervenção propostos, incidindo nos conceitos multimodais de deslocação definidos e nas soluções a implementar
- PROPOSTA METODOLÓGICA DE MEDIÇÃO DOS SPILLOVER EFFECTS COM INDICADORES DE ACESSIBILIDADE
ESTUDO DAS ACTUAÇÕES EM ESPANHA E EM PORTUGAL
Ana Margarida Condeço Melhorado, Javier Gutiérrez Puebla
Palavras chave: Acessibilidade, Spillovers effects, Planeamento do transporte, Análises de redes, SIGO conceito de acessibilidade refere-se à facilidade que uma determinada localização possui para alcançar os bens e serviços desejados. Na literatura podem-se encontrar vários indicadores para medir a acessibilidade, variando a sua formulação com as diferentes definições que existem para este conceito. Os estudos de acessibilidade têm sido utilizados para caracterizar o grau de proximidade dos territórios em relação às oportunidades existentes, assim como para analisar as mudanças derivadas da construção de novas infra-estruturas na acessibilidade dos territórios.
No entanto, uma revisão mais atenta permite descobrir que até à data se tem omitido sistematicamente um aspecto importante no planeamento do transporte: avaliar os benefícios que as infra-estruturas de transporte duma região produzem sobre as regiões vizinhas. Esta ideia é semelhante ao que em economia se conhece por spillover effects, para designar os impactos produzidos fora dos limites da região que recebe o investimento. O seu estudo está normalmente vinculado ao efeito que o capital público produz nos sectores privados.
O nosso objectivo é o de medir os spillover effects através dos indicadores de acessibilidade, utilizando as funcionalidades SIG. Parte-se do princípio que a construção duma nova auto-estrada produz um aumento de acessibilidade que supera os limites geográficos da região onde é construída. Esta comunicação forma parte duma tese de doutoramento, actualmente em execução, onde se identificou que as auto-estradas propostas pelo PEIT (Plano Estratégico de Infra-estruturas e Transporte do Governo espanhol até 2020) produzem aumentos de acessibilidade no território português. Seguidamente, realizou-se o mesmo tipo de análise para as auto-estradas que a UE prevê para Portugal até ao ano 2020. Os resultados permitem concluir sobre a existência de importantes spillover effects a ambos lados da fronteira. - RECURSOS CINEGÉTICOS EM PORTUGAL: OPORTUNIDADES E AMEAÇAS. CASO DE ESTUDO DO PERÍMETRO FLORESTAL DA CONTENDA
Giselda Monteiro, Bruno Pereira, Carla Carrasco, Joana Carreto
Palavras chave: Recursos Cinegéticos, sustentabilidade dos recursos autóctones, Perímetro Florestal da ContendaA caça é hoje em dia encarada como uma actividade promotora de desenvolvimento de determinadas áreas onde o processo de despovoamento é uma realidade. No entanto, se a caça não for praticada de uma forma equilibrada e que respeite as regras básicas da conservação e preservação da natureza, pode pôr em causa a sustentabilidade dos recursos autóctones, e assim comprometer o potencial processo de desenvolvimento. A sobreexploração dos recursos cinegéticos constitui uma ameaça não negligenciada no quadro do ordenamento sustentável.
Numa sociedade onde cada vez mais se dá importância às questões ambientais e, essencialmente, ao turismo de natureza, as áreas rurais podem aproveitar o potencial cinegético que possuem, de forma a criarem uma maior oferta de actividades de lazer. O exemplo do Perímetro Florestal da Contenda (Moura) ilustra as potencialidades e debilidades da exploração destes recursos. - REGIÃO E IDENTIDADE – O CASO DO ALENTEJO
Ana Lavrador, Maria Alexandre Lousada
Palavras chave: paisagem, identidade, representação, marketing, AlentejoEste artigo debruça-se sobre a mudança na identidade do Alentejo, uma das mais carismáticas regiões de Portugal. Nos últimos 30 anos ocorreram importantes modificações na região, quer no que respeita ao regime de propriedade quer relativamente às actividades económicas, ambas com reflexos no uso do solo e na sua ocupação. As consequentes mudanças da paisagem e o marketing apoiado em representações criaram uma nova identidade para a região. Essas mudanças na identidade regional alentejana estão fortemente relacionadas com três momentos políticos cruciais: a) A Campanha do Trigo, nos anos 30 do século XX, através da qual a região é transformada no “celeiro do país”; b) A Reforma Agrária, emergente da Revolução do 25 Abril de 1974, ficou associada às expropriações, a novas figuras empresariais (UCP) e ao voto comunista, no seu conjunto representando o Alentejo Vermelho; c) A actualidade, com início na adesão de Portugal à CEE, em 1986, é balizada, no essencial, pelas seguintes modificações: (re)modelação agrícola (vinhedos, olival, produção de gado, plano de rega do Alqueva); novas actividades industriais (em particular a plataforma de Sines e novas acessibilidades) e, sobretudo, uma importante oferta recreativa, centrada nas residências secundárias e no turismo (visitas a centros urbanos, caça, enoturismo, outros), no seu conjunto oferecendo uma nova paisagem agrária e uma nova identidade ao Alentejo.
A metodologia utilizada assenta na recolha estatística e num conjunto de representações diversificado, com destaque para textos literários e as: imagens contidas em folhetos publicitários. - RISCO DE INCÊNDIO URBANO NO CENTRO HISTÓRICO DE MIRANDELA
Maria Manuel Afonso Lopes Gouveia
Palavras chave: Risco de Incêndio Urbano, SIG, Centro HistóricoOs Centro Históricos são áreas vulneráveis que devem ser alvo de um planeamento estratégico forçosamente anterior à ocorrência de fenómenos de origem natural ou antrópica que prejudica a sua individualidade, harmonia e homogeneidade.
Com base nos registos das ocorrências de incêndios urbanos no concelho de Mirandela, constata-se que todos os anos se registam ocorrências desta natureza. Assim, justifica-se o desenvolvimento de uma metodologia com vista à elaboração de uma Carta de Risco de Propagação de Incêndio Urbano (CRPIU), pretendendo esta ser um contributo para o estudo da tentativa de minimização do risco de propagação de incêndio urbano, bem como uma base de trabalho para um planeamento adequado e funcional.
Pretende-se que a Carta de Risco de Incêndio Urbano (CRPIU), elaborada com recurso aos SIG, ao constituir um meio de classificação dos edifícios em classes de risco fraco, moderado ou elevado, permita uma correcta tomada de decisão relativamente à necessidade de aplicação de medidas estratégicas de prevenção. A aplicação dessas medidas, que ocasionam uma intervenção adequada e eficaz no território, devem ter como objectivo a minimização do risco de incêndio urbano e deverão, necessariamente, envolver a população que reside e/ou que trabalha no Centro Histórico de Mirandela, bem como os técnicos que executam os projectos e os políticos que têm o poder de decisão. Uma vez que uma actuação incorrecta das pessoas que ocupam os edifícios pode ocasionar a rápida propagação de um incêndio urbano, só através do seu envolvimento, consciencialização, sensibilização e responsabilização se poderá iniciar uma cultura de prevenção que, associada à elaboração de um Plano Prévio de Intervenção e de um Plano Especial de Emergência de Risco de Incêndio, originam a diminuição das consequências graves de um incêndio urbano, tais como a destruição do património edificado, a perda de vidas humanas ou das memórias que perduram para além da ocorrência de um incêndio. - RISCO METEOROLÓGICO NA CIDADE DE LISBOA
CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DAS PRECIPITAÇÕES INTENSAS ENTRE 1993/94
Pedro Elias Oliveira
Palavras chave: Lisboa, precipitações intensas, risco meteorológicoO estudo da temática das inundações urbanas em Lisboa tem vindo a ser desenvolvido pelo autor nos últimos anos (Oliveira, 2003 e 2006). Sabendo que as chuvadas que dão origem a inundações urbanas resultam da água precipitada em algumas horas ou em períodos inferiores a 60 minutos, o presente trabalho teve como objectivo efectuar uma análise frequencial das quantidades máximas de precipitação registadas para várias durações (5, 10, 15 e 30 minutos, e 1, 2, e 6 horas) e, dentro destas, as precipitações de origem convectiva, ocorridas na cidade entre 1993/94 e 2004/2005.
Neste período de 12 anos, ocorreram 651 dias de precipitação intensa, distribuídos muito irregularmente, oscilando entre 82 e 31 dias por ano. A análise estacional revelou que quase ¾ dos dias de precipitação intensa ocorreram no Outono e no Inverno, tendo só nesta última estação ocorrido cerca de 40%. O Outono foi a estação do ano que registou máximos mais elevados de precipitação em quase todos os períodos de duração. Nos períodos de 5 e 10 minutos, após o Outono com a quantidade máxima mais elevada, seguiu-se a Primavera, depois o Verão e, o por último o Inverno. A análise mensal revelou que os valores mais elevados de precipitação nos 5 períodos de duração inferior (5 minutos a 1 hora) ocorreram em Novembro, e que os períodos de 2 e 6 horas de duração se registaram em Outubro. Em todo o período estudado ocorreram 136 dias (21% do total) com registo de precipitação convectiva, tendo a variação anual oscilado entre 4 e 20 dias por ano. A análise intermensal permitiu verificar que 2/3 dos dias com precipitação convectiva se concentraram nos 4 meses de Outubro a Janeiro, com destaque para Outubro com cerca de 20%.
Este estudo pode ser aplicado ao planeamento urbano e avaliação do risco meteorológico com incidência nas inundações em meio urbano. - RISCOS NATURAIS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ESPAÇOS-RISCO E INTERFACES TERRITORIAIS NA REGIÃO CENTRO
Alexandre Oliveira Tavares, Lúcio Cunha
Palavras chave: Perigosidade natural, susceptibilidade, espaços-risco, interfaces, ordenamentoCom este trabalho faz-se uma avaliação da perigosidade natural na Região Centro de Portugal, e expressam-se os graus de susceptibilidade de nove processos relacionados com a geodinâmica bem como com os processos climáticos ou eventos meteorológicos extremos. A representação cartográfica da susceptibilidade, incluída nos estudos do PROT-Centro, permitiu a identificação de corredores de interface e de espaços-risco, determinantes nas estratégias de ordenamento, operacionalização e desenvolvimento do território.
- RYANAIR IN OPORTO AIRPORTA RYANAIR NO AEROPORTO DO PORTO: TRANSFORMAÇÕES NOS PADRÕES DE VIAGEM?
João Sarmento, Rui Rocha, Vítor Ribeiro, Nuno Miranda
Palavras chave: Ryanair, Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, Transporte aéreo, Padrões de ViagemNuma altura em que a maior parte das discussões sobre o transporte aéreo em Portugal se centram em torno da localização do novo aeroporto de Lisboa, este artigo tenta ilustrar a importância da operação de companhias aéreas de baixo custo (Low Cost Carriers ou LCCs) no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um aeroporto com uma área de influência de cerca de 6 milhões de pessoas, e onde estas companhias são responsáveis por quase 30% da cota de mercado. Presentemente existem seis LCCs a operar neste aeroporto, das quais a Ryanair é a que oferece um conjunto mais alargado de destinos (13 no final de 2007). Pretende-se assim discutir os resultados de um estudo preliminar realizado em 2007 a 213 passageiros da companhia Ryanair nos voos com origem no Porto para os destinos de Madrid, Paris, Frankfurt e Londres, sendo o principal objectivo o de contribuir para a compreensão do papel das LCCs em Portugal e das transformações que estas podem ter nos padrões e comportamentos de viagem.
- SERVIÇOS INOVADORES DE TRANSPORTE EM ÁREAS RURAIS DE BAIXA DENSIDADE
O 'ELO FÍSICO' DA COESÃO SÓCIO-TERRITORIAL?
João Fermisson, Daniel Miranda
Palavras chave: áreas rurais de baixa densidade, transportes, acessibilidade, serviços colectivosEsta comunicação incide sobre a problemática da acessibilidade das populações residentes em áreas rurais de baixa densidade aos designados ‘serviços colectivos’, os quais se podem identificar como uma ‘oferta’ destinada a satisfazer necessidades básicas que, pela sua natureza específica, atribuem ao Estado o dever de garantir a existência de condições equitativas de ‘consumo’ por parte da ‘procura’. Num contexto de despovoamento continuado e de progressiva marginalização deste tipo de territórios e das respectivas populações, estuda-se o papel que a implementação de serviços inovadores de transporte em áreas rurais de baixa densidade poderá desempenhar em termos de minimização do ‘gap’ existente entre a oferta e a procura de serviços colectivos.
- TENTATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NOS CONCELHOS DO PINHAL INTERIOR SUL
Fernando Ribeiro Martins
Palavras chave: Pinhal Interior Sul, indústria, parque industrialOs concelhos do Pinhal Interior Sul (Mação, Oleiros, Sertã, Proença-a-Nova e Vila de Rei) são uma área marcadamente rural, onde a agricultura tradicional e a silvicultura foram até há poucas dezenas de anos as actividades dominantes. Os solos pobres de xisto e os declives acentuados da maior parte do seu território favorecem claramente a prática silvícola, sobretudo de pinheiro bravo (Pinus pinaster) e também de algum eucalipto (Eucalyptus globulus) que os incêndios florestais têm dizimado ao longo das últimas décadas. Não admira portanto que os produtos florestais tenham constituído a sua principal riqueza e a existência de indústrias de transformação de madeira uma consequência directa.
Apesar de alguns exemplos históricos (poucos) de indústrias de sucesso, durante as últimas duas décadas multiplicaram-se os esforços e as tentativas de desenvolvimento industrial; cada concelho criou o seu próprio parque “industrial” e foi repetindo essa experiência, junto à sede de concelho ou de uma das suas freguesias. Actualmente, são já em número elevado (onze parques em cinco concelhos), mas as indústrias que aí se instalaram, entre as quais várias multinacionais, têm contribuído pouco para o desenvolvimento desta área e para a fixação de população residente por via da criação de emprego.
O que propomos nesta comunicação é uma “viagem” em torno das tentativas de desenvolvimento da indústria e das actividades que lhe têm estado associadas. - TERRITÓRIOS GLOBAIS - EXPLOSÃO DEMOGRÁFICA E INTERNET
Jorge Ricardo da Costa Ferreira
Palavras chave: Geografia da Internet, População, Demografia, Sociedade da Informação, Disseminação da InformaçãoDe acordo com os últimos dados da ONU, a população da terra está a crescer a um ritmo demasiado elevado. Dos cinco mil milhões em 1987, para mais de seis mil milhões em 2007 e, em 2050, mais de 9 mil milhões. Ainda segundo a Agência das Nações Unidas para a População (UNFPA), em 2007 a população urbana já atingia os 50% da população mundial.
O acentuado crescimento demográfico far-se-á sentir sobretudo nos continentes Africano e Asiático onde, apenas numa geração, o seu crescimento acumulado duplicará. Isso significa que, daqui a 23 anos nas maiores cidades do mundo, viverão 80% dos habitantes do planeta.
O mundo vira-se assim para as cidades, asfixiando-as num insuportável ritmo de crescimento urbano onde, por vezes, várias cidades se juntam numa, tornando-se aglomerações de escala regional.
As razões que levam as cidades a um tão elevado crescimento são múltiplas. A sociedade da informação poderá ser um dos factores responsáveis. Se há uns anos se pensava que esta traria uma diminuição da densidade populacional das cidades, devido a factores resultantes de mudanças como o téle-trabalho ou a diminuição do número de deslocações entre o local de trabalho e as periferias, tais pressupostos não se vieram a verificar. A globalização poderia ser outro dos factores explicativos, uma vez que as cidades e as regiões estão a competir por recursos humanos, pela captação de investimento e pela imagem através do marketing territorial.
A globalização e a regionalização representam ambos os lados da mesma medalha, reflectindo-se na economia, na cultura e no contexto sócio-político das grandes potências mundiais. Ambas as tendências devem ter, logicamente, expressão na Internet. De facto, além dos domínios de topo associados ao código de cada país (.pt para Portugal, .fr para França. etc.) começa a ser sentida uma enorme necessidade de criar um novo tipo de domínios, quer regionais quer, inclusivamente ao nível das cidades. Estes representariam um conjunto de subdomínios associados quer a nomes completos, quer a abreviaturas de cidades.
Este paper tem assim como objectivos: (i) Observar, para alguns países, o cenário de crescimento demográfico; (ii) Quantificar com base em metodologias de análise da Geografia da Internet, a espacialização territorial do endereçamento IP (Internet Protocol) através do número de hosts por domínios de topo (número de dispositivos on-line); (iii) Questionar a correlação entre deste indicador com a dinâmica demográfica de alguns territórios; (iv)
Reflectir sobre as propostas para novas designações de domínios de topo (.eu, .asia, .nyc, .sg, .berlim, etc. ) que representariam comunidades políticas, económicas e/ou culturais de inquestionável relevância. - TIPOLOGIA DAS DINÂMICAS METROPOLITANAS DO SISTEMA URBANO PORTUGUÊS
Patrícia Abrantes, José António Tenedório, Dulce Pimentel, Rossana Estanqueiro
Palavras chave: Metropolização, complexidade, SIG, modelação espacial, SOM, DIMETA tipologia das dinâmicas metropolitanas do sistema urbano português é o resultado da elaboração e aplicação de uma metodologia de modelação espacial da metropolização apoiada em Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
Partindo da concepção de um modelo de dados em SIG que considera seis dimensões do fenómeno de metropolização estruturadas numa matriz entidades(dimensões)/indicadores (população, economia, organização urbana, redes, organização territorial e sociedade e cultura), propõe-se o tratamento dessa mesma matriz através de métodos de classificação e análise espacial por redes neuronais, nomeadamente os Self-Organizing Map (SOM).
O método SOM é avaliado como robusto para a extracção de uma tipologia designada DIMET (Tipologia das dinâmicas metropolitanas). A partir da aplicação do algoritmo de classificação identificam-se 10 tipos de agregados (metrópoles de Lisboa e Porto, área suburbana consolidada, área suburbana em consolidação, metrópole potencial, área de metropolização, área de dinâmica urbana, área de centralidade local, área de fraca dinâmica urbana, área sem dinâmica urbana), avaliados empiricamente em paralelo com tipologias decorrentes de estudos sobre o sistema urbano português desenvolvidos sobretudo durante a década de noventa.
A metodologia desenvolvida permite analisar a organização e estruturação espacial do fenómeno metropolitano, surgindo como instrumento potencial para a compreensão de territórios complexos onde a forte mutabilidade e multiplicidade de escalas, dimensões e actores exigem novos desafios de adaptação sistemática das políticas e dos instrumentos de ordenamento do território. - TRANSPORTES PÚBLICOS EM ÁREAS RURAIS
PERSPECTIVAS E ESTUDOS-CASO
Ana Santos Carpinteiro
Palavras chave: Transportes Públicos, Rurais, Equidade, Desenvolvimento RegionalDas dificuldades de fornecimento de ligações efectivas entre populações dispersas em aldeias e actividades e serviços nascem numerosos esforços de solucionamento e perspectivas que tentam fazem incidir luz sobre o problema da acessibilidade rural. Se a degradação de transportes públicos e serviços de aldeia, agravou a inviabilidade económica dos primeiros por um lado, e a utilidade do carro particular por outro, acresce a este cenário que as comunidades rurais são hoje muito menos auto-suficientes. Um hipotético padrão de dispersão de infra-estruturas e serviços de pequena escala é contrário à racionalização e centralização que orientam as políticas tanto do sector público como privado. Assim, o sector dos transportes assume-se como o âmbito da solução e a problemática do planeamento de transportes nesta matéria trata efectivamente de reconciliar três objectivos conflituantes: baixo custo, bons níveis de acessibilidade e cobertura geográfica ampla.
Contudo, às oposições problematizadoras entre os custos e a lógica própria de fornecimento em áreas rurais, entre a procura e as necessidades específicas, entre o retorno e a inexistência de limiares de procura, e entre as acessibilidades e a inviabilidade da oferta tradicional, acrescem ainda as questões do direito ao transporte e da equidade social. Consequentemente, reconhece-se que proporcionar melhores acessibilidades, e uma alternativa ao carro privado, ainda que tal não possa ser conjugado com um retorno mínimo, é um objectivo que permanece por integrar considerações como o factor ‘assistencial’ do estado providência e outras como o desenvolvimento regional, a questão demográfica e o apoio indirecto a actividades agrícolas.
Tendo como objectivo analisar esta dinâmica, uma amostragem de propostas e soluções é comparada tendo em conta perspectivas formuladas por vários autores e conjunturas políticas, económicas e sociais. Desenvolvimentos mais recentes destacam-se e enquadram-se no paradigma do desenvolvimento sustentável e da valorização da inovação tecnológica, reflectindo preocupações de mobilidade sustentável. - UMA REFLEXÃO A PROPÓSITO DO RISCO
Margarida Queirós, Teresa Vaz, Pedro Palma
Palavras chave: Risco, sociedade de risco, percepção do risco, teoria cultural, paradigma psicométrico, gestão do riscoA noção de risco, porque ambígua mas frequentemente associada ao perigo, instabilidade e vulnerabilidade, é transversal aos mais diversos sectores e problemas do quotidiano da sociedade, do local ao global. É por isso alvo de amplas investigações no campo do conhecimento das ciências naturais, através de estudos orientados para as causas e previsão dos fenómenos que lhe estão associados, bem como na área das ciências sociais, relacionados sobretudo com a percepção e prevenção.
Alguns autores (Egler, 1996; Giddens 1991, 1998, 1999; Beck, 1992, 1994, 1999) chamam a atenção para o facto de vivermos numa sociedade onde a industrialização e os avanços tecnológicos em prol do progresso e do desenvolvimento, modificaram a natureza dos riscos, o contexto em que estes aparecem e a capacidade da sociedade em os compreender e gerir.
Com efeito, a sociedade em que os riscos eram certezas deu lugar à sociedade de risco, para a qual estes surgem de uma forma nunca antes observados, sendo cada vez mais complexos e difíceis de controlar, reflectindo frequentemente problemas de desconhecimento de processos e de ausência confiança dos indivíduos nas instituições.
Neste contexto de crescente globalização e complexidade, de dúvida e incerteza, a análise de risco, enquanto processo interactivo, revela-se uma via pertinente de investigação. Em Geografia, estudos de distribuição espacial dos riscos têm recentemente colocado ênfase nas áreas de elevada concentração populacional ou em localizações inadequadas de actividades humanas com a preocupação de apoiar o ordenamento do território no que respeita aos processos de avaliação, comunicação e gestão dos riscos.
Dada a crescente importância dos assuntos relacionados com os riscos na actualidade, neste artigo apresenta-se uma reflexão, ainda que preliminar, acerca das suas concepções, em particular, os estudos de percepção dos riscos, destacando a pertinência crescente nas políticas públicas deste conhecimento na perspectiva da sua integração na prática do planeamento e gestão dos riscos. - USO URBANO E AGRÍCOLA DA ÁGUA – O CASO DAS ALBUFEIRAS DO ARADE E DO FUNCHO
Alexandre Leandro, Maria Umbelina Dias, Rui Miguel Santos
Palavras chave: Água, albufeira, aquífero, escassez, recursos, usoA escassez de água no sul do território nacional, a gestão deficitária dos recursos hídricos, as más condições das infra-estruturas de captação e distribuição de água, o aumento sazonal de população, acompanhado da pouca tradição de poupança de água dos portugueses, aliado ainda à existência de estruturas turísticas que utilizam muita água (campos de golfe, parques aquáticos, piscinas) e da degradação dos aquíferos, são problemas graves com que os concelhos do barlavento algarvio se debatem todos os anos, especialmente nos de seca.
A presente comunicação3 tem por objectivo ilustrar a problemática do uso dos recursos hídricos do barlavento algarvio através da diferente utilização da água das albufeiras do Arade e do Funcho e dos impactes biofísicos daí resultantes.
Foram considerados quatro concelhos (Lagos, Lagoa, Portimão e Silves) cujo o abastecimento depende dessas albufeiras. Nos três últimos concelhos, a água é fornecida directamente às explorações agrícolas pela albufeira do Arade; para o consumo urbano, os quatro concelhos dependem indirectamente da água da albufeira do Funcho, após tratamento na ETA (estação de tratamento da água) de Alcantarilha.
Os dados relativos ao armazenamento da albufeira, quantidades gastas na rega e perdas analisados para a albufeira do Arade são relativos a uma janela temporal de 43 anos (1959-2004), durante a qual os valores de armazenamento foram muito variáveis, tendo sido por vezes necessário o reforço através da albufeira do Funcho. A variação dos consumos para a agricultura está directamente relacionada com o tipo de culturas que se praticam. Por esse motivo, procedeu-se à análise territorial do uso do solo, para a qual foi produzida cartografia com base nas fotografias aéreas recolhidas no site da EDINFOR (http://www.itgeo.pt) à escala de 1:10 000, que foram georeferenciadas com os limites dos concelhos e cruzadas com a restante cartografia, permitindo a criação de polígonos de áreas homogéneas através do ArcGis, nomeadamente das áreas urbanas, florestais, agrícolas e de lazer.
