VI Congresso da Geografia Portuguesa / Eixos temáticos / D. Ambiente: recursos, riscos e sustentabilidade
D. Ambiente: recursos, riscos e sustentabilidade
Coordenadores científicos
- Ana Ramos Pereira
- Maria José Roxo
Comunicações
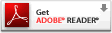
|
on-line | cópia local (versão 9.10) | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows | Mac | |||
| www.adobe.com/reader |
Versão portuguesa Versão inglesa |
Versão portuguesa Versão inglesa |
||
- A MORFOLOGIA GRANÍTICA E O SEU VALOR PATRIMONIAL: EXEMPLOS NA SERRA DE MONTEMURO
António Vieira
Palavras chave: Morfologia Granítica, Património Geomorfológico, Serra de MontemuroA diversidade da morfologia granítica e sua originalidade imprime um cunho muito próprio e único às áreas de montanha granítica, dotando-as de características locais identificadoras, capazes de as tornar atractivas e procuradas para o desenvolvimento de actividades relacionadas com o turismo de natureza, com os desportos ao ar livre ou “radicais” e mesmo com a cultura ou educação.
Tendo este princípio em consideração, procedemos à análise das características e tipologia da morfologia granítica, partindo de classificações propostas por diversos autores, aplicando-as ao caso concreto da Serra de Montemuro.
Na sequência desta análise, pretendemos identificar e avaliar a importância dos elementos geomorfológicos enquanto elementos patrimoniais, tendo como base um conjunto de critérios de ordem diversa (científica, estética, ecológica, cultural…), tentando contribuir para a clarificação dos conceitos em torno do Património Geomorfológico, dos critérios para a sua classificação, sua valorização e promoção.
Servindo-nos do exemplo da Serra de Montemuro, desenvolvemos uma inventariação dos elementos patrimoniais geomorfológicos de maior valor, relacionados com a litologia granítica, e procurámos identificar as potencialidades inerentes a este tipo de Património Geomorfológico, no sentido da sua preservação e divulgação. - A SAGA DOS OGM´S
UMA REFLEXÃO POLÉMICA
Ana Firmino
Palavras chave: OGM´s, Biodiversidade, Segurança Alimentar, Princípio da Precaução, Agricultura Biológica, CoexistênciaA introdução dos OGM´s na União Europeia é bastante recente (Directiva 2001/18/EC). Não temos, portanto, o conhecimento suficiente para, duma forma inequívoca, garantirmos que, a médio ou longo prazo, estes não poderão vir a causar problemas ao ambiente e, até mesmo, à saúde dos consumidores, dado que a comercialização destes produtos se iniciou sem que tivesse decorrido um período suficientemente lato de experimentação.
As experiências em laboratório e em ensaio de campo não permitem avaliar os possíveis impactes de plantações em maior escala nem as alterações resultantes dum consumo continuado. Situações de polinização cruzada, que poderão contribuir para a diminuição da biodiversidade, no caso da agricultura, fuga de variedades geneticamente modificadas para o exterior, no caso dos peixes, e receios quanto à transparência na rastreabilidade e rotulagem dos produtos, são algumas das razões apontadas para a fraca adesão do consumidor europeu a esta inovação biotecnológica.
Nesta comunicação pretendo apresentar o resultado da minha investigação e reflexão quanto às motivações políticas e económicas, que jogam forte na imposição dum produto que, segundo o Princípio da Precaução, vigente na Lei de Bases do Ambiente da União Europeia, deveria primeiro dar provas da sua inocuidade, para o ambiente e para o consumidor, antes de ser aceite no mercado.
Por fim serão discutidas as implicações negativas em modos de produção sustentáveis, como é o caso da agricultura biológica (em que não é permitido utilizar OGM´s, mas que recente legislação da EU aceita venha a ser contaminada por estes até 0,9%) e os efeitos que esta situação poderá causar na imagem dos produtos de qualidade, em geral, se os esforços que estão a ser desenvolvidos, visando a adopção de medidas que permitam uma coexistência segura, não surtirem efeito. - A UTILIZAÇÃO DO CONCEITO DE CAPACIDADE DE CARGA PARA A GESTÃO E ORDENAMENTO DE PRAIAS. O EXEMPLO DO PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA CAMINHA-ESPINHO
Carlos Pereira da Silva, Fátima Alves, Romana Rocha
Palavras chave: Praias, Gestão Integrada, Zona Costeira, TurismoA importância das áreas litorais para o recreio e lazer por parte de milhões de turistas em todo o mundo contribui para que a actividade turística, represente para os espaços litorais uma das maiores fontes de riqueza mas, simultaneamente, uma grande quota parte dos seus problemas ambientais. O rápido crescimento que esta actividade tem vindo a registar nos últimos 30 anos é frequentemente apontado como responsável pelas grandes alterações registadas na qualidade ambiental destas áreas. Desta forma, a crescente ocupação e massificação da faixa litoral vem gerando congestionamentos e desequilíbrios cada vez maiores, contribuindo para a crescente degradação da paisagem através da destruição dos valores naturais e consequente diminuição da sua biodiversidade.
As praias desempenham, neste contexto, um papel crucial, tornando cada vez mais importante a sua gestão e ordenamento, dentro de uma filosofia do desenvolvimento sustentável.
Conceitos como capacidade de carga aplicados de forma flexível e dinâmica tornam-se assim cruciais para estes espaços. Em Portugal, onde o turismo balnear desempenha um papel importante na economia nacional, o ordenamento destes espaços é determinante para a manutenção da sua capacidade de atracção.
Desde os anos 90, com a elaboração de Planos de Ordenamento da Orla Costeira a existência de Planos de Praia é obrigatória, sendo aí considerados vários parâmetros, desde os equipamentos, tipo e localização, até à necessidade de cálculo de capacidade de carga. No caso de estudo em análise, aplicado ao Norte de Portugal, quer a dinâmica litoral existente, quer as intervenções propostas no âmbito do Plano originalmente elaborado, alteraram algumas das características das praias, obrigando em alguns casos a necessidade de reequacionar algumas das capacidades de carga propostas, colocando assim novos desafios á sua gestão. Tenta-se assim demonstrar a validade do conceito de Capacidade de carga aplicado às praias, mas que deve porém ser utilizado de uma forma flexível e dinâmica. - ABANDONO AGRÍCOLA NO INTERIOR CENTRO E NORTE DE PORTUGAL: DINÂMICA DA VEGETAÇÃO E IMPACTES HIDROGEOMORFOLÓGICOS
Adélia Nunes, A. Figueiredo, A. Campar de Almeida
Palavras chave: Abandono agrícola, Dinâmica da vegetação, Impactes hidrogeomorgológicos, Interior de PortugalO Interior Centro e Norte de Portugal registou, nas últimas décadas do passado século, um fenómeno de acentuado abandono agrícola, que, a par com alterações no tipo e regime de uso do solo, acarretaram mudanças importantes na paisagem rural. Estas mudanças devem-se, principalmente, ao processo de esvaziamento demográfico das áreas rurais, em consequência do enorme surto migratório, mas também à retirada de terras de produção (set-aside), favorecida pela Política Agrícola Comum.
Este trabalho pretende avaliar as consequências do abandono agrícola na dinâmica da vegetação, características físico-químicas dos solos, resposta hidrológica (escoamento superficial vs infiltração) e erosiva dos solos, com base na selecção de áreas-amostra representativas de diferentes etapas de abandono, tendo-se em alguns casos por referência parcelas com formações arbóreas autóctones.
Concluiu-se que, de um modo geral, os maiores escoamentos superficiais, a que correspondem as mais elevadas taxas de erosão hídrica, ocorrem em parcelas recentemente abandonadas, com cobertura vegetal descontínua, normalmente comunidades terofíticas, estando os valores mais baixos de erosão relacionados com situações de abandono mais antigo, dada a presença de formações arbustivas de elevada cobertura. Interpretadas como comunidades basais, estas formações arbustivas estão dominadas por leguminosas fabáceas do género Cytisus, apresentando normalmente elevada densidade e um evidente empobrecimento florístico.
As condições edáficas, o clima, a topografia e acções humanas subsequentes ao abandono (pastorícia, exploração de lenha, fogos florestais), controlam as condições das comunidades arbustivas instaladas no pós-abandono, que por sua vez interferem na resposta hidrogeomorfológica e condições físico-químicas dos solos. - ÁREAS URBANAS, USO DO SOLO E PROTECÇÃO AMBIENTAL
José Eduardo Ventura
Palavras chave: áreas urbanas, uso do solo, protecção ambiental, região de Lisboa, inundaçõesA questão da protecção ambiental é, cada vez mais, um problema pertinente a equacionar nos processos de planeamento urbano pelas implicações que tem na vida das populações. Temas actuais como a alteração climática e o desenvolvimento sustentável reposicionam com destaque esta questão. Os cenários da mudança climática e suas incertezas dificultam a previsão dos efeitos da acção humana no funcionamento dos sistemas naturais e o desenvolvimento sustentável, conceito banalizado na agenda política, tem como um dos seus principais pilares o ambiente.
Neste contexto, a integração da protecção ambiental e o respeito pelo funcionamento dos sistemas naturais devem ser aprofundados na concepção de novos projectos urbanos e na requalificação dos antigos, sem esquecer as modificações introduzidas pela acção do homem. O rigoroso planeamento do uso do solo urbano permite mitigar os efeitos dos fenómenos extremos e concretizar o paradigma ambiental como um dos alicerces do desenvolvimento sustentável.
Nas áreas urbanas do nosso território e em particular na AML, existem múltiplos casos de desrespeito pela natureza, pela legislação vigente e pela segurança e bem-estar das populações.
As situações climático-hidrológicas extremas constituem um dos exemplos que tem posto em evidência a vulnerabilidade destes territórios, resultante da inadequada ocupação do solo que, em muitos casos, não atende aos seus condicionalismos naturais.
Nesta comunicação será feita uma reflexão sobre esta problemática, ilustrada com exemplos da região de Lisboa. - AS MARÉS NEGRAS EM SINES
CARACTERIZAÇÃO DOS DERRAMES DE PETRÓLEO NA COSTA DE SINES
Miguel Costa do Carmo
Palavras chave: Sines, maré negra, petróleo, poluiçãoNo Porto de Sines e na costa envolvente, a Marinha registou desde 1973 – data que corresponde ao início da actividade do terminal petroleiro - 93 derrames de hidrocarbonetos no mar, que totalizam mais de 6 000 toneladas. Deste valor, 75% corresponde ao acidente com o navio-tanque Marão a 14 de Julho de 1989, que libertou cerca de 4 500 ton. de petróleo no interior do porto. Para uma melhor noção de escala, mencione-se que o Prestige derramou aproximadamente 63 000 ton., dez vezes mais.
Este tipo de poluição ocorre, genericamente, em operações de transporte (acidentes com petroleiros, operações com navios, despejos de lastro e lavagens de tanques) ou em instalações fixas (refinarias costeiras, explorações “off-shore”, terminais). Em Sines, destacam-se como fontes de poluição os acidentes no porto e a lavagem ilegal de tanques ao largo. Estas descargas operacionais traduzem-se, devido à natureza difusa e clandestina do fenómeno, numa difícil identificação e quantificação dos eventos. Acrescenta-se ainda o risco de poluição associado à refinaria da Galp instalada junto à costa.
É feito um levantamento exaustivo dos derrames ocorridos na costa de Sines, debruçando-se sobre as consequências, através do cruzamento dos registos da Marinha com o arquivo de imprensa da Hemeroteca. Neste contraponto, a base de dados extensa da Marinha é enriquecida com a descrição dos eventos mais mediáticos. Com esta informação procura-se fazer uma leitura cartográfica dos derrames em Sines, assinalando os locais dos principais derrames e das zonas do litoral afectadas.
Esta pesquisa pretende substituir a ideia de acidente, como referência a um acontecimento fortuito e/ou associado ao erro humano, pela ideia de persistência de uma situação de risco. Em Sines ocorre um elevado número de pequenos derrames espalhados no tempo, resultado directo do conjunto de usos que caracterizam aquela costa: a) no Porto de Sines entra 60% do petróleo consumido em Portugal; b) cerca de 30% do petróleo mundial
(12 navios/dia) utiliza corredores marítimos na ZEE portuguesa. - ATLAS DO AMBIENTE
ESPÉCIES DE FAUNA PROTEGIDAS EM PORTUGAL CONTINENTAL
Ana Costa, Lara Baião
Palavras chave: Sustentabilidade ambiental, fauna, cartografia, espécies protegidasNos dias de hoje, a sustentabilidade ambiental tem sido uma temática muito debatida, devido não só à sua importância, como também ao despertar da consciência das pessoas para os problemas com ela relacionados.
Esta sustentabilidade implica directamente a preservação da biodiversidade, ou seja, a conservação de todas as espécies animais (fauna) e vegetais (flora) existentes, bem como a salvaguarda da variabilidade dentro de cada uma das espécies. Este aspecto, em última instância, torna-se também muito importante para a manutenção das condições de vida do Homem.
Apesar de terem sido tomadas várias medidas de acção para viabilizar a manutenção desta sustentabilidade, como a implementação de leis directamente relacionadas com a fauna e da flora, a criação de parques, reservas naturais e da Rede Natura 2000, entre outras, existem parâmetros que não são passíveis de controlo. Não se pode ditar regras aos animais e dizer-lhes onde podem ou não alimentar-se e procriar, bem como não se pode controlar o vento para disseminar as sementes em áreas restritas. Este facto torna importante o conhecimento da localização das espécies que, por se encontrarem em minoria ou em vias de extinção, podem induzir um desequilíbrio na natureza o que consiste numa ameaça à sustentabilidade ambiental.
Este mapa representa a localização das espécies de fauna protegidas, cuja importância recai sobre a temática da conservação da sustentabilidade, uma vez que o conhecimento da localização das espécies ameaçadas permite uma melhor intervenção, visando a sua preservação. O mesmo foi elaborado com base em levantamentos realizados no terreno por biólogos, relativos a cada uma das espécies protegidas das quatro classes taxionómicas, designadas por, Anfíbios e Répteis, Mamíferos, Aves e Invertebrados. Porém, dado o elevado número de espécies (112), uma representação fiável e compreensível das mesmas era inviável, dada a escala do mapa (1:1 000 000).
Assim, as espécies foram aglutinadas de acordo com as suas respectivas classes e generalizadas no mapa das Espécies de Fauna Protegidas em Portugal Continental. - AVALIAÇÃO DA PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL
João Verde, José Luís Zêzere
Palavras chave: risco, perigosidade, floresta, incêndiosO fogo é um fenómeno natural que faz parte da estratégia de desenvolvimento de algumas espécies e da renovação da paisagem, que modela as florestas e que é anterior às tentativas do Homem para lhe fazer frente. Em Portugal continental sofrem-se ano após ano prejuízos elevados resultantes da destruição de edificado e de vastas áreas de povoamentos florestais dos quais as populações retiram rendimentos, o que justifica a necessidade de se avaliar a perigosidade de incêndio florestal. A utilização de variáveis com forte relação espacial para elaboração de um mapa de susceptibilidade e respectivas curvas de sucesso e de predição, com recurso a validação independente, permitiu avaliar a perigosidade para todo o país, com base probabilística associada a cenários. Demonstra-se neste trabalho que com um compromisso eficaz entre o número de variáveis e a capacidade preditiva é possível avaliar com objectividade a perigosidade de incêndio florestal.
- CENÁRIO AMBIENTAL E URBANO DE VIANA DO CASTELO
DINÂMICA E TENDÊNCIA DOS RISCOS NATURAIS EM DOIS LUGARES DE ESTUDO
José da Cruz Lopes
Palavras chave: cidade-média, ambiente urbano, fenómenos naturais; sustentabilidade localPor Carta régia de 1848 a urbe marinheira e comercial da Vila da foz do Lima foi elevada à categoria de Cidade para, anos mais tarde, se qualificar como Capital de Distrito e, nas últimas décadas do último século, passar a integrar o grupo nacional das cidades-médias, as quais irradiam dinâmicas de expansão que configuraram novos perímetros urbanos e intencionalmente se apropriam das qualidades cénicas dos biótopos e das amenidades ambientais que estas encerram. Viana do Castelo tem, em 2000, o seu projecto urbanístico na Polis.
O Rio Lima e o seu Estuário, o Monte e o Mar geraram personalidade urbana, singular posição geográfica e qualificado cenário ambiental a esta antiga Urbe vianense. Mas estes “acidentes” sempre competiram entre si e ambos se envolveram e desenvolveram à medida e à escala ditada pela pressão humana e clara aspiração e conquista de urbanidade, em particular em finais do séc. XIX e também do séc. XX. A função piscatória e comercial potenciou um novo Porto de Mar, uma moderna fácies de urbanidade e outra dimensão de «fazer cidade». A nossa reflexão inicial é situar e problematizar estas dinâmicas e tendências urbanas da Cidade e confrontar as últimas intervenções urbanísticas com os cenários ambientais actuais e o contexto de relação cénica desses sistemas naturais, constituintes deste território urbano.
Através de dois exemplos de lugares urbanos (um costeiro e a poente, outro de vertente, a nascente) com particulares realidades ambientais e de ecologia urbana local, questionamos alguns pressupostos usados para o projecto de programa(s) urbanístico(s), bem como explicitamos um quadro de riscos naturais associados à sua própria sustentabilidade no próximo futuro. - DESASTRES NATURAIS NO BRASIL: UMA QUESTÃO SOCIAL NA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Luís Eduardo de Souza Robaina
Palavras chave: Desastres naturais, ocupação urbana, áreas de riscosO Homem interfere no ambiente, criando novas situações, sendo as cidades o maior exemplo.
Neste trabalho busca-se fazer uma reflexão como a configuração espacial, no meio urbano, é uma manifestação de processos sociais e históricos específicos que estão associados ao modo de produção dominante e às transformações que o modelaram ao longo do tempo e estão intimamente ligados a ocorrência de desastres naturais e as áreas de risco no Brasil. O crescimento desordenado das cidades, controlado principalmente por interesses privados e especulativos, é considerado como um condicionante de desastres. A redução de estoques de terrenos em áreas seguras, e sua conseqüente valorização, provocam o adensamento dos estratos populacionais mais vulneráveis em áreas de riscos.
A amplitude dos danos e perdas provocados por uma catástrofe, depende em primeiro lugar da natureza e da magnitude das suas causas, mas também das características do espaço territorial em que ocorre. A vulnerabilidade de uma região a tais riscos depende de fatores tão diversos como a densidade populacional, a natureza dos seus bens tecnológicos e culturais, o tipo de organização social e econômica e a capacidade exibida pelas comunidades para enfrentarem os diferentes fatores de risco. Um desastre exprime a materialização da vulnerabilidade social. O aumento dos desastres está intimamente conectado com o crescente processo de subdesenvolvimento e marginalização social.
Por isso, a definição das áreas de risco no Brasil deve ser visto como resultado da interface de uma população marginalizada e um ambiente físico deteriorado. - ESBOÇO DO PERFIL DO INCENDIÁRIO NA SERRA DA CABREIRA
ALGUMAS DEBILIDADES DA INFORMAÇÃO DENDROCAUSTOLÓGICA
António José Bento Gonçalves
Palavras chave: Serra da Cabreira, incêndios florestais, perfil do incendiário, debilidades da informaçãoUm dos problemas que muitas vezes surge na investigação científica de incêndios florestais é o acesso à informação e, principalmente, a qualidade dessa informação.
A nossa investigação, visando traçar o perfil do incendiário florestal na serra da Cabreira, onde recorremos à informação do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, da Polícia Judiciária e da Direcção Geral dos Recursos Florestais, revela-se um bom exercício de demonstração de diferentes debilidades da informação dendrocaustológica - ESTUDO DO RISCO SÍSMICO E TSUNAMIS NO ALGARVE (ERSTA)
ASPECTOS METODOLÓGICOS DA DETERMINAÇÃO DAS VULNERABILIDADES HUMANAS
José Rodriguez, Margarida Queirós, Eduardo Brito Henriques, Pedro Palma, Teresa Vaz
Palavras chave: Algarve, risco sísmico, vulnerabilidades humanas, população presente, mobilidade espacial quotidianaPela sua proximidade às placas euro-asiática e africana, o Algarve apresenta uma perigosidade sísmica elevada. Perante esta ameaça, torna-se indispensável conhecer e quantificar as vulnerabilidades humanas na comunidade regional, de forma a se poderem estimar os danos directos a ela associados.
Reconhecendo a importância deste risco natural, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) em parceria com diversas instituições universitárias está a desenvolver o Estudo do Risco Sismico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA, 2007-08), No âmbito deste estudo, o CEG/FLUL é a entidade responsável pelo estudo das vulnerabilidades humanas.
Esta comunicação tem por objectivo apresentar os principais aspectos metodológicos da determinação das vulnerabilidades humanas, que se organiza em duas etapas. Numa primeira, é realizado o diagnóstico dos elementos vulneráveis, baseado na caracterização demográfica e socio-económica; no estudo das localizações de maior atractividade e concentração; a caracterização das deslocações diurnas, semanais e sazonais da população residente e presente. Na segunda etapa estabelece-se a dimensão das vulnerabilidades humanas, por intervalo de tempo, período do ano e unidade espacial, através do cálculo da população presente, considerando os padrões de mobilidade da população residente e não residente.
Os resultados obtidos ao nível das vulnerabilidades humanas serão integrados num simulador em SIG, que permitirá através do estabelecimento de cenários sísmicos e a previsão dos danos associados, apoiar os serviços de protecção civil na elaboração e gestão dos referidos planos especiais de emergência. - ESTUDOS DE ETNO-DESENVOLVIMENTO – OS ÍNDIOS AYMARA DOS ANDES CENTRAIS
Isabel Maria Madaleno
Palavras chave: Etno-desenvolvimento, Civilização Andina, Água, Nichos Agro-EcológicosNo ano de 2003 o Instituto de Investigação Científica Tropical iniciou uma linha de pesquisa votada ao estudo dos últimos redutos de civilizações perdidas, como é o caso das andinas, dos descendentes das culturas de Tiwanaku e Incaica, com o objectivo de resgatar as fórmulas ancestrais de exploração dos recursos naturais de forma ambiental e economicamente sustentável, que pudessem servir de modelo de sustentabilidade a outros ecossistemas frágeis
das Regiões Tropicais. Durante dois verões consecutivos uma equipa luso-chilena percorreu o Sul do Peru, Norte do Chile e a metade ocidental da Bolívia buscando as fórmulas ancestrais de gestão dos recursos hídricos e edáficos, tendo explorado 30 aglomerados esparsos pela Cordilheira Andina e percorrido acima de 6.000 km de estradas e caminhos pelos altos planaltos, vertentes das montanhas e desertos costeiros. Analisámos e documentámos a singular organização espacial dos povos indígenas, o arquipélago Aymara, que se dizem legítimos descendentes dos Tiwanakotas das margens do Lago Titicaca, constituída por cinco andares e outros tantos nichos agro-ecológicos: 1. O Altiplano (alto planalto), localizado acima de 4.000 metros do nível das águas do mar; 2. A Pré-Cordilheira (vertentes andinas), sita entre 3.000 e 4.000 m; 3. Os Vales do curso superior dos escassos rios, entre 2.000 e 3000 metros; 4. Os Oásis das pampas do sopé dos Andes, estendendo-se em média entre
1.000 a 2.000 metros de altitude; 5. Os vales do curso inferior, Vales Perirubanos, já que as cidades chilenas são no geral costeiras. No Extremo Norte do Chile objectivámos especificamente determinar em que medida a acção antrópica, desenvolvida ao longo de milénios, conduziu à espoliação de recursos naturais observada e registada durante as missões de 2003 e 2004. Civilização perdida no tempo e no espaço de confronto de poderosos interesses, por via da riqueza cuprífera chilena, a subsistência da rede de povoados da etnia Aymara depende dos mesmos recursos hídricos de que carece a mui rentável mas altamente depredadora indústria extractiva. - EVENTOS HIDRO-GEOMORFOLÓGICOS COM CARÁCTER DANOSO EM PORTUGAL CONTINENTAL: ANÁLISE PRELIMINAR AO PERÍODO 1970-2006
Ivânia Quaresma, José Luís Zêzere
Palavras chave: Desastres Naturais, Cheias, Movimentos de Massa, Base de DadosPortugal Continental está sujeito à ocorrência de fenómenos naturais que têm o potencial para gerar danos e que redundam, por vezes, em situações de catástrofe ou desastre. Dos diversos tipos de desastres naturais com incidência em Portugal, os de natureza hidro-geomorfológica (e.g., cheias e movimentos de massa) são os que ocorrem com maior frequência, com prevalência para os de carácter hidrológico.
De acordo com a EM-DAT, base de dados sobre desastres naturais de referência internacional, ocorreram muito poucos desastres naturais do tipo hidro-geomorfológico no território Português, no decurso do século XX. No entanto, esta referência tem que ser entendida à luz dos critérios, razoavelmente restritivos, utilizados pelos gestores desta base de dados para a caracterização de uma catástrofe natural (e.g., ocorrência de 10 ou mais mortes; existência de 100 ou mais pessoas afectadas). Com efeito, o século XX e os primeiros anos do século XXI foram marcados em Portugal Continental pela ocorrência de numerosos eventos de natureza hidro-geomorfológica, que provocaram danos corporais e materiais significativos, traduzindo-se em mortos, feridos, desaparecidos, evacuados e desalojados, e originando milhões de euros de prejuízos. Ainda que as consequências destes eventos sejam relevantes, elas tendem a desvanecer-se na memória colectiva, o que contribui para a subvalorização dos fenómenos perigosos em causa. Deriva daqui um sério problema que torna necessárias políticas de prevenção e mitigação eficientes. Neste trabalho apresentam-se os primeiros resultados de uma investigação sobre desastres naturais em Portugal Continental, baseada em relatos na imprensa escrita diária, num intervalo de 106 anos. Pretende-se construir um inventário que sustente o estudo dos padrões temporal e espacial dos eventos com carácter danoso, tornando-se num instrumento basilar para o ordenamento do território e para o planeamento de emergência em Portugal Continental. - GEOPOLÍTICA DOS RECURSOS NATURAIS E DOS CONFLITOS FACTORES DE INSTABILIDADE E DINÂMICA DE CONFLITO
Américo Seabra Zuzarte Reis
Palavras chave: Recursos Naturais, Environmental Security, Resource WarsA geopolítica dos recursos naturais e dos conflitos tem vindo a ganhar destaque em vários domínios da nossa sociedade. As alterações ambientais e a escassez de recursos naturais comportam ameaças e riscos para a segurança global e humana. Esta constatação, ainda que alvo de algum criticismo, deu origem a uma vasta profusão de literatura sob a égide das
expressões Environmental Security e Resource Wars.
A literatura sobre Environmental Security incide sobre as relações causais entre ambiente e segurança. As alterações ambientais têm um carácter cumulativo e podem contribuir directamente para a insegurança e conflito, a diferentes escalas. Raramente as alterações ambientais são causa única de um conflito. No entanto, as suas consequências podem interagir e potenciar os efeitos negativos de certos factores de natureza demográfica, social, política ou
económica, para além de potenciarem outros fenómenos sociais extremos (e.g. pobreza, migração, doenças infecciosas, tráficos).
Por seu lado, os trabalhos consagradas às Resource Wars incidem sobre a geopolítica dos recursos e dos conflitos. Estes trabalhos analisam os conflitos de forma a determinar a medida em que a escassez de recursos contribui para a instabilidade e conflito. As abordagens de cariz geopolítico exploram a fronteira crítica entre a estabilidade e o conflito, perspectivando a difusão de conflitos sobre recursos essenciais, desde o petróleo até à água potável.
No novo mapa político dos conflitos, sobressaem países onde a escassez de recursos induz lutas pela sobrevivência diária e, paradoxalmente, países onde a abundância de recursos fomenta e alimenta diversos tipos de insurreições e conflitos armados.
Com esta comunicação pretende-se evidenciar e chamar ao debate os aspectos mais relevantes sobre segurança ambiental e guerras sobre recursos, uma vez que estes conceitos têm enormes implicações na segurança e prosperidade da nossa sociedade. - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES DEVIDO A VENTOS FORTES
O CASO DE LISBOA
Sandra Oliveira, António Lopes
Palavras chave: Árvores em meio urbano, queda de árvores, avaliação de risco, vento forteAs árvores em meio urbano oferecem inúmeros benefícios, quer ao nível ambiental, quer ao nível económico e social. No entanto, podem também ser a causa de danos materiais e humanos, devido à queda de ramos, pernadas ou da própria árvore, em situações de vento forte. Este tipo de situações é relativamente frequente na cidade de Lisboa, dependendo da estação do ano e das condições meteorológicas. O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa é responsável pelo registo das ocorrências, pela limpeza da área onde ocorre a queda e pela notificação da entidade responsável pela manutenção das árvores, normalmente a Câmara Municipal de Lisboa.
Neste trabalho, é apresentada uma metodologia com vista à análise dos danos causados às árvores pelo vento forte (> 7 m/s) e as potenciais causas da ocorrência de quedas de árvores, pernadas e ramos na cidade de Lisboa. Os dados das ocorrências foram obtidos a partir dos arquivos do RSBL e analisados em conjunto com dados meteorológicos (direcção e velocidade do vento) e informação sobre as espécies, condições fitossanitárias, características do local de ocorrência e outros parâmetros da morfologia urbana, como por exemplo a orientação das ruas e a relação H/W.
Foi analisado um período de 17 anos, entre 1990 e 2006. Concluiu-se que a maior percentagem de quedas se verificou nos últimos 7 anos e que existem variações sazonais em relação ao número de ocorrências e à direcção do vento dominante registadas.
A metodologia apresentada pretende contribuir para a elaboração de cartografia de risco de queda de árvores devido a ventos fortes em meio urbano. - PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A CONSTRUÇÃO DA UHE TUCURUÍ: REORDENAMENTO DAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS RIBEIRINHAS
Maria das Graças da Silva
Palavras chave: Planejamento territorial, Grandes Projetos, Reordenação Socioespacial, Questão AmbientalO trabalho discute as principais transformações ecológicas e sociais ocorridas na área de construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Estado do Pará e suas repercussões nas práticas socioambientais de grupos sociais do Baixo Tocantins, área de jusante da barragem. Com base em estudo realizado nessa área, caracteriza-se o modo como as transformações têm repercutido no manejo dos recursos naturais, particularmente, nas atividades de pesca artesanal e no extrativismo vegetal, práticas que historicamente dão sustentação aos modos de vida ribeirinha por se configurarem como a base do sistema produtivo, e nas próprias relações sociais. Buscou-se estudar Como os grupos locais reordenam os espaços e territórios de onde retiravam cotidianamente sua subsistência, e politizam a degradação ambiental nas lutas que demandam reconhecimento de direitos ambientais de acesso e uso comum da base de recursos territorializados. O esforço analítico foi o de desvendar os efeitos da intervenção racional, não só nos ecossistemas, mas nos meios e modos de vida das comunidades, e seus rebatimentos nas dinâmicas locais. Os resultados dos estudos mostram que no contexto das lutas, a questão ambiental conformou um campo de forças específico da luta entre representantes do Setor Elétrico e esses grupos.
- RECURSOS CINEGÉTICOS EM PORTUGAL: OPORTUNIDADES E AMEAÇAS. CASO DE ESTUDO DO PERÍMETRO FLORESTAL DA CONTENDA
Giselda Monteiro, Bruno Pereira, Carla Carrasco, Joana Carreto
Palavras chave: Recursos Cinegéticos, sustentabilidade dos recursos autóctones, Perímetro Florestal da ContendaA caça é hoje em dia encarada como uma actividade promotora de desenvolvimento de determinadas áreas onde o processo de despovoamento é uma realidade. No entanto, se a caça não for praticada de uma forma equilibrada e que respeite as regras básicas da conservação e preservação da natureza, pode pôr em causa a sustentabilidade dos recursos autóctones, e assim comprometer o potencial processo de desenvolvimento. A sobreexploração dos recursos cinegéticos constitui uma ameaça não negligenciada no quadro do ordenamento sustentável.
Numa sociedade onde cada vez mais se dá importância às questões ambientais e, essencialmente, ao turismo de natureza, as áreas rurais podem aproveitar o potencial cinegético que possuem, de forma a criarem uma maior oferta de actividades de lazer. O exemplo do Perímetro Florestal da Contenda (Moura) ilustra as potencialidades e debilidades da exploração destes recursos. - RISCO DE INCÊNDIO URBANO NO CENTRO HISTÓRICO DE MIRANDELA
Maria Manuel Afonso Lopes Gouveia
Palavras chave: Risco de Incêndio Urbano, SIG, Centro HistóricoOs Centro Históricos são áreas vulneráveis que devem ser alvo de um planeamento estratégico forçosamente anterior à ocorrência de fenómenos de origem natural ou antrópica que prejudica a sua individualidade, harmonia e homogeneidade.
Com base nos registos das ocorrências de incêndios urbanos no concelho de Mirandela, constata-se que todos os anos se registam ocorrências desta natureza. Assim, justifica-se o desenvolvimento de uma metodologia com vista à elaboração de uma Carta de Risco de Propagação de Incêndio Urbano (CRPIU), pretendendo esta ser um contributo para o estudo da tentativa de minimização do risco de propagação de incêndio urbano, bem como uma base de trabalho para um planeamento adequado e funcional.
Pretende-se que a Carta de Risco de Incêndio Urbano (CRPIU), elaborada com recurso aos SIG, ao constituir um meio de classificação dos edifícios em classes de risco fraco, moderado ou elevado, permita uma correcta tomada de decisão relativamente à necessidade de aplicação de medidas estratégicas de prevenção. A aplicação dessas medidas, que ocasionam uma intervenção adequada e eficaz no território, devem ter como objectivo a minimização do risco de incêndio urbano e deverão, necessariamente, envolver a população que reside e/ou que trabalha no Centro Histórico de Mirandela, bem como os técnicos que executam os projectos e os políticos que têm o poder de decisão. Uma vez que uma actuação incorrecta das pessoas que ocupam os edifícios pode ocasionar a rápida propagação de um incêndio urbano, só através do seu envolvimento, consciencialização, sensibilização e responsabilização se poderá iniciar uma cultura de prevenção que, associada à elaboração de um Plano Prévio de Intervenção e de um Plano Especial de Emergência de Risco de Incêndio, originam a diminuição das consequências graves de um incêndio urbano, tais como a destruição do património edificado, a perda de vidas humanas ou das memórias que perduram para além da ocorrência de um incêndio. - RISCO METEOROLÓGICO NA CIDADE DE LISBOA
CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DAS PRECIPITAÇÕES INTENSAS ENTRE 1993/94
Pedro Elias Oliveira
Palavras chave: Lisboa, precipitações intensas, risco meteorológicoO estudo da temática das inundações urbanas em Lisboa tem vindo a ser desenvolvido pelo autor nos últimos anos (Oliveira, 2003 e 2006). Sabendo que as chuvadas que dão origem a inundações urbanas resultam da água precipitada em algumas horas ou em períodos inferiores a 60 minutos, o presente trabalho teve como objectivo efectuar uma análise frequencial das quantidades máximas de precipitação registadas para várias durações (5, 10, 15 e 30 minutos, e 1, 2, e 6 horas) e, dentro destas, as precipitações de origem convectiva, ocorridas na cidade entre 1993/94 e 2004/2005.
Neste período de 12 anos, ocorreram 651 dias de precipitação intensa, distribuídos muito irregularmente, oscilando entre 82 e 31 dias por ano. A análise estacional revelou que quase ¾ dos dias de precipitação intensa ocorreram no Outono e no Inverno, tendo só nesta última estação ocorrido cerca de 40%. O Outono foi a estação do ano que registou máximos mais elevados de precipitação em quase todos os períodos de duração. Nos períodos de 5 e 10 minutos, após o Outono com a quantidade máxima mais elevada, seguiu-se a Primavera, depois o Verão e, o por último o Inverno. A análise mensal revelou que os valores mais elevados de precipitação nos 5 períodos de duração inferior (5 minutos a 1 hora) ocorreram em Novembro, e que os períodos de 2 e 6 horas de duração se registaram em Outubro. Em todo o período estudado ocorreram 136 dias (21% do total) com registo de precipitação convectiva, tendo a variação anual oscilado entre 4 e 20 dias por ano. A análise intermensal permitiu verificar que 2/3 dos dias com precipitação convectiva se concentraram nos 4 meses de Outubro a Janeiro, com destaque para Outubro com cerca de 20%.
Este estudo pode ser aplicado ao planeamento urbano e avaliação do risco meteorológico com incidência nas inundações em meio urbano. - RISCOS NATURAIS E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
ESPAÇOS-RISCO E INTERFACES TERRITORIAIS NA REGIÃO CENTRO
Alexandre Oliveira Tavares, Lúcio Cunha
Palavras chave: Perigosidade natural, susceptibilidade, espaços-risco, interfaces, ordenamentoCom este trabalho faz-se uma avaliação da perigosidade natural na Região Centro de Portugal, e expressam-se os graus de susceptibilidade de nove processos relacionados com a geodinâmica bem como com os processos climáticos ou eventos meteorológicos extremos. A representação cartográfica da susceptibilidade, incluída nos estudos do PROT-Centro, permitiu a identificação de corredores de interface e de espaços-risco, determinantes nas estratégias de ordenamento, operacionalização e desenvolvimento do território.
- UMA REFLEXÃO A PROPÓSITO DO RISCO
Margarida Queirós, Teresa Vaz, Pedro Palma
Palavras chave: Risco, sociedade de risco, percepção do risco, teoria cultural, paradigma psicométrico, gestão do riscoA noção de risco, porque ambígua mas frequentemente associada ao perigo, instabilidade e vulnerabilidade, é transversal aos mais diversos sectores e problemas do quotidiano da sociedade, do local ao global. É por isso alvo de amplas investigações no campo do conhecimento das ciências naturais, através de estudos orientados para as causas e previsão dos fenómenos que lhe estão associados, bem como na área das ciências sociais, relacionados sobretudo com a percepção e prevenção.
Alguns autores (Egler, 1996; Giddens 1991, 1998, 1999; Beck, 1992, 1994, 1999) chamam a atenção para o facto de vivermos numa sociedade onde a industrialização e os avanços tecnológicos em prol do progresso e do desenvolvimento, modificaram a natureza dos riscos, o contexto em que estes aparecem e a capacidade da sociedade em os compreender e gerir.
Com efeito, a sociedade em que os riscos eram certezas deu lugar à sociedade de risco, para a qual estes surgem de uma forma nunca antes observados, sendo cada vez mais complexos e difíceis de controlar, reflectindo frequentemente problemas de desconhecimento de processos e de ausência confiança dos indivíduos nas instituições.
Neste contexto de crescente globalização e complexidade, de dúvida e incerteza, a análise de risco, enquanto processo interactivo, revela-se uma via pertinente de investigação. Em Geografia, estudos de distribuição espacial dos riscos têm recentemente colocado ênfase nas áreas de elevada concentração populacional ou em localizações inadequadas de actividades humanas com a preocupação de apoiar o ordenamento do território no que respeita aos processos de avaliação, comunicação e gestão dos riscos.
Dada a crescente importância dos assuntos relacionados com os riscos na actualidade, neste artigo apresenta-se uma reflexão, ainda que preliminar, acerca das suas concepções, em particular, os estudos de percepção dos riscos, destacando a pertinência crescente nas políticas públicas deste conhecimento na perspectiva da sua integração na prática do planeamento e gestão dos riscos. - USO URBANO E AGRÍCOLA DA ÁGUA – O CASO DAS ALBUFEIRAS DO ARADE E DO FUNCHO
Alexandre Leandro, Maria Umbelina Dias, Rui Miguel Santos
Palavras chave: Água, albufeira, aquífero, escassez, recursos, usoA escassez de água no sul do território nacional, a gestão deficitária dos recursos hídricos, as más condições das infra-estruturas de captação e distribuição de água, o aumento sazonal de população, acompanhado da pouca tradição de poupança de água dos portugueses, aliado ainda à existência de estruturas turísticas que utilizam muita água (campos de golfe, parques aquáticos, piscinas) e da degradação dos aquíferos, são problemas graves com que os concelhos do barlavento algarvio se debatem todos os anos, especialmente nos de seca.
A presente comunicação3 tem por objectivo ilustrar a problemática do uso dos recursos hídricos do barlavento algarvio através da diferente utilização da água das albufeiras do Arade e do Funcho e dos impactes biofísicos daí resultantes.
Foram considerados quatro concelhos (Lagos, Lagoa, Portimão e Silves) cujo o abastecimento depende dessas albufeiras. Nos três últimos concelhos, a água é fornecida directamente às explorações agrícolas pela albufeira do Arade; para o consumo urbano, os quatro concelhos dependem indirectamente da água da albufeira do Funcho, após tratamento na ETA (estação de tratamento da água) de Alcantarilha.
Os dados relativos ao armazenamento da albufeira, quantidades gastas na rega e perdas analisados para a albufeira do Arade são relativos a uma janela temporal de 43 anos (1959-2004), durante a qual os valores de armazenamento foram muito variáveis, tendo sido por vezes necessário o reforço através da albufeira do Funcho. A variação dos consumos para a agricultura está directamente relacionada com o tipo de culturas que se praticam. Por esse motivo, procedeu-se à análise territorial do uso do solo, para a qual foi produzida cartografia com base nas fotografias aéreas recolhidas no site da EDINFOR (http://www.itgeo.pt) à escala de 1:10 000, que foram georeferenciadas com os limites dos concelhos e cruzadas com a restante cartografia, permitindo a criação de polígonos de áreas homogéneas através do ArcGis, nomeadamente das áreas urbanas, florestais, agrícolas e de lazer.
« Regressar à lista de eixos temáticos
